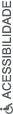






O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras



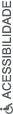






O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras



Campo Limpo Paulista, sexta-feira, 25 de abril de 2025
 (11) 4039-1526 /
(11) 4039-1526 /
 Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano
Dados
| Sessão | Tipo | Data |
|---|---|---|
| 46/2019 | Ordinária | 25/03/2019 00:00:00 |
| Descrição |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA PAUTA 46a. SESSÃO ORDINÁRIA 13a. LEGISLATURA 26 DE MARÇO DE 2019 - 19:00 horas (*) EXPEDIENTE ATAS DE SESSÕES ANTERIORES: Da 45ª Sessão Ordinária, de 12/03/2018. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: - Boletim Informativo nº 25 (período de 13 a 26/03/2019) - Eventual leitura de correspondência extra-boletim BALANCETES: Da Câmara Municipal, ref. meses janeiro e fevereiro/2019. INDICAÇÕES Nº 9.136, do Ver. Paulinho da Ambulância Nº 9.149, do Ver. Marcelo de Araujo Nº 9.150, da Verª. Dulce Amato Nº 9.151, da Verª. Dulce Amato Nº 9.152, da Verª. Dulce Amato Nº 9.153 da Verª. Dulce Amato Nº 9.154, da Verª. Dulce Amato Nº 9.155, do Ver. Denis Roberto Braghetto REQUERIMENTOS: Nº 2.595, do Ver. Marcelo de Araujo PROJETOS RECEBIDOS (leitura para conhecimento) Moção nº 1.934, do Ver. Prof. Evandro Moção nº 1.941, do Ver. Marcelo de Araujo Moção nº 1.942, do Ver. Denis Roberto Braghetti Projeto de Lei Complementar nº 664, do Executivo Projeto de Lei Complementar nº 665, do Executivo leitura de eventuais projetos extra pauta ? (Colocar os projetos à disposição das Comissões, iniciando p/ CJR) ASSUNTOS GERAIS (falar sobre qualquer assunto de interesse público) Inscrição mediante assinatura do livro c/ Secretário) ‘ ORDEM DO DIA 1. VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI Nº 2.819, do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários de saúde. PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICAS (Voto Secreto) EXPLICAÇÃO PESSOAL Uso da palavra p/ justificar atitudes pessoais Inscrição mediante assinatura no livro c/ Secretário. Sala das Sessões, 25 de março de 2019. ANTONIO FIAZ CARVALHO Presidente (*) SESSÃO ADIADA. INDICAÇÃO Nº 9.136 Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA Senhor Presidente: CONSIDERANDO que os Bairros Saint James I e Saint James II possuem vias públicas que demandam constante manutenção, pois apresentam chão de terra; CONSIDERANDO que em tempos de chuva, as vias de piso de terra dos locais ficam intransitáveis pelo acúmulo de água, que gera excesso de lama, e o número de buracos em seus leitos carroçáveis aumenta significativamente; CONSIDERANDO que o grande número de buracos nas vias também prejudica a circulação de veículos tanto nos dias chuvosos, como nas estiagem, sobretudo nos trechos percorridos pela linha de ônibus urbano, aumentando os riscos de acidentes e danos materiais aos moradores, transeuntes e demais usuários daquela região; CONSIDERANDO que em decorrência, várias reclamações foram protocoladas por moradores desses Bairros junto à Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista no sentido de adotar medidas cabíveis para solucionar o problema, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências no sentido de que seja verificada a possibilidade da realização dos serviços de motonivelamento e adição de cascalho em todas as vias públicas de terra dos Bairros Saint James I e Saint James II, em atenção aos pedidos dos moradores, para oferecer melhores condições aos seus leitos carroçáveis. Campo Limpo Paulista, 06 de março de 2019. DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões , Paulo Pereira dos Santos Vereador Paulo Pereira dos Santos Vereador Paulo Pereira dos Santos Vereador ----------------------------------------- Presidente INDICAÇÃO Nº 9.149 Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS Senhor Presidente: CONSIDERANDO que as estradas do bairro Pau Arcado, Estância São Paulo e Km 8 ainda não são pavimentadas; CONSIDERANDO que algumas vias públicas dos locais apresentam trechos intransitáveis, a exemplo do que ocorre com a Estrada dos Pinheirinho, Estrada do Paiol e Estrada da Granja; CONSIDERANDO que por tais vias públicas transitam os ônibus encarregados do transporte escolar das crianças residentes na região; CONSIDERANDO que esses alunos ficam prejudicados pela paralização dos ônibus decorrente do estado das vias públicas, podendo contribuir para a evasão escolar; CONSIDERANDO estar presente também o risco da ocorrência de acidentes, além dos danos aos veículos já registrados, motivados pelo estado precário das vias públicas; CONSIDERANDO que inobstante a necessidade da medida, o Executivo não formalizou um cronograma para efetivamente realizar a conservação dessas vias públicas, a benefício da população, I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências no sentido de que sejam realizados serviços de conservação das estradas do bairro Pau Arcado, Estância São Paulo e Km 8, ainda não pavimentadas, notadamente das Estrada dos Pinheirinho, Estrada do Paiol e Estrada da Granja, restabelecendo as condições de trânsito dessas vias públicas por onde transitam também os ônibus encarregados do transporte escolar, formalizando, ainda, um cronograma para efetivamente proceder a manutenção dessas vias públicas, em atendimento ao interesse público. Campo Limpo Paulista, 19 de março de 2019. MARCELO DE ARAUJO Vereador DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões, ----------------------------------------- Presidente INDICAÇÃO Nº 9.150 Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS Senhor Presidente: CONSIDERANDO que os passeios públicos e canteiros da entrada do CREAS na Rua Borba Gato, Vila Thomazina, estão tomados pelo mato; CONSIDERANDO que os matos que vicejam em abundância estão prejudicando a entrada das pessoas que procuram atendimento no CREAS e dos seus funcionários; CONSIDERANDO que a circunstância denota o abandono a que está relegada nossa cidade; I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências visando proceder a capinação dos passeios públicos e dos canteiros na entrada do CREAS situado à Rua Borba Gato, Vila Thomazina, retirando os matos que ali vicejam, eis que estão prejudicando a circulação das pessoas que ali procuram atendimento e dos funcionários. Campo Limpo Paulista, 20 de março de 2019. DULCE AMATO Vereadora DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões, ----------------------------------------- Presidente INDICAÇÃO Nº 9.151 Assunto: CONSERVAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA Senhor Presidente: CONSIDERANDO as péssimas condições de trânsito das ruas do Parque Niágara; CONSIDERANDO tratar-se de vias públicas não pavimentadas, de chão de terra, I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências no sentido de que sejam realizadas a manutenção mecânica e a limpeza das ruas do Parque Niágara, como também o cascalhamento de seus leitos carroçáveis, que se encontram em péssimas condições de trânsito. Campo Limpo Paulista, 20 de março de 2019. DULCE AMATO Vereadora DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões, ----------------------------------------- Presidente INDICAÇÃO Nº 9.152 Assunto: SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICOS Senhor Presidente: CONSIDERANDO o risco que representa à segurança dos moradores e dos usuários transitarem pelas vielas do Jardim Laura, cheias de mato; CONSIDERANDO as reclamações a respeito, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências no sentido de proceder a limpeza, roçada e capinação de todas as vielas existentes no Jardim Laura, eis que tomadas pelo mato, representam riscos à segurança dos que ali tem necessidade de trafegar. Campo Limpo Paulista, 20 de março de 2019. Dulce Amato Vereadora DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões , ----------------------------------------- Presidente INDICAÇÃO Nº 9.153 Assunto: SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICOS Senhor Presidente: CONSIDERANDO que matos vicejam à vontade pelas Ruas Alcino Delate e Marques de Itu, situadas no Jardim Maria; CONSIDERANDO que essa vegetação já tão crescida ultrapassa o limite dos acostamentos, invadindo os leitos carroçáveis; CONSIDERANDO que a situação vem afetando o trânsito seguro quer de veículos, quer de pedestres, gerando reclamações, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências visando realizar serviços de limpeza, de roçada e de capinação das Ruas Alcino Delate e Marques de Itu, situadas no Jardim Maria, eis que os matos que ali vicejam já ultrapassaram o limite dos acostamentos e invadem os leitos carroçáveis, afetando o trânsito seguro dessas vias públicas. Campo Limpo Paulista, 20 de março de 2019. DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões , ----------------------------------------- Presidente Dulce Amato Vereadora INDICAÇÃO Nº 9.154 Assunto: SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICOS Senhor Presidente: CONSIDERANDO que o acostamento e passeios públicos da Avenida dos Emancipadores estão tomados pelos matos; CONSIDERANDO tratar-se de via pública bastante movimentada, cujo estado de conservação vem representando perigo ao trânsito de pedestres, I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências no sentido de que sejam realizados serviços de roçada e de capinação do acostamento e passeios públicos da Avenida dos Emancipadores, para restabelecer as condições seguras de trânsito aos pedestres. Campo Limpo Paulista, 20 de março de 2019. Dulce Amato Vereadora DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões , ----------------------------------------- Presidente INDICAÇÃO Nº 9.155 Assunto: DESASSOREAMENTO DE TUBULAÇÃO Senhor Presidente: CONSIDERANDO que a tubulação subterrânea existente na via pública de acesso à rotatória do Jardim Monte Alegre e Vila Olímpia, por onde se escoam as águas do córrego do Jardim Marsola, está assoreada; CONSIDERANDO que nos dias chuvosos, essa tubulação não proporciona vazão suficiente do volume de água, devido ao estreitamento do diâmetro de seus tubos pelo acúmulo de sedimentos; CONSIDERANDO estar presente o risco de transbordamento dessas águas no local, como já ocorrido, que prejudica sobremaneira o acesso dos pedestres e de veículos aos bairros, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências objetivando o desassoreamento da tubulação subterrânea existente na via pública de acesso à rotatória do Jardim Monte Alegre e Vila Olímpia, por onde se escoam as águas do córrego do Jardim Marsola, para aumentar o volume de vazão das águas nos dias chuvosos, evitando, por essa forma, o seu transbordamento, como já ocorrido em outras oportunidades, levando danos e impossibilitando o acesso aos bairros. Campo Limpo Paulista, 20 de março de 2019. DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal Sala das Sessões , ----------------------------------------- Presidente Denis Roberto Braghetti Vereador MOÇÃO nº 1-9-3-4 CONSIDERANDO que desde 2009, tramita na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei nº 652, que “dispõe sobre a criação do Parque Estadual da Serra do Japi”, de autoria do ex-deputado e ex-prefeito do município de Jundiaí, o Sr. Pedro Bigardi; CONSIDERANDO que tal propositura é de inegável relevância, pois pretende, caso seja aprovada, implantar uma regra geral no intuito de unificar as legislações existentes nos municípios de Jundiaí, Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar, que de muito boa vontade tentaram proteger as parcelas deste inestimável patrimônio sob suas custódias, mas, como não poderia deixar de ser, lacunas acabaram existindo, permitindo aportes de grupos interessados em desmatar mais e mais esse patrimônio do qual depende a sobrevivência de muitas espécies silvestres e, inegavelmente, a da espécie humana; CONSIDERANDO a MOÇÃO DE APELO Nº 145 de 2014 pela urgente apreciação do PL 652/2009, que "dispõe sobre a criação do Parque Estadual da Serra do Japi", aprovada pela Câmara Municipal de Jundiaí e encaminhada em urgência à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 28 de outubro de 2014; CONSIDERANDO a MOÇÃO DE APELO Nº 02 de 2014 pela urgente apreciação do PL 652/2009, que "dispõe sobre a criação do Parque Estadual da Serra do Japi", aprovada pela Câmara Municipal de Cajamar e encaminhada em urgência à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no dia 05 de novembro de 2014; CONSIDERANDO o OFÍCIO n.º 3147 de 2015 da Assembleia Legislativa de São Paulo (Of. SGP n.º 3147/2015), e que o Projeto de Lei nº 652 de 2009 que cria o Parque Estadual da Serra do Japi encontra-se com a instrução completa e apto à deliberação do Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; CONSIDERANDO a PETIÇÃO feita pelo grupo Rede Entidades da Sociedade Civil do Aglomerado Urbano de Jundiaí, solicitando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que aprove o Projeto de lei Nº 652/2009 que cria o Parque Estadual da Serra do Japi, e a quantidade de assinaturas colhidas recentemente em pouco tempo; Por todas as razões acima expostas, (Moção 1934, fls. 02, fecho e subscrições) A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo pela URGENTE aprovação do Projeto de Lei nº 652/2009, que “dispõe sobre a criação do Parque Estadual da Serra do Japi”, da lavra do ex- Deputado Pedro Bigardi, dando-se ciência desta deliberação ao Exm.º Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris, ao Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Casa, Deputado Roberto Tripoli, bem como ao Governador João Doria, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Sr. Marcos Penido e ao Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA. Campo Limpo Paulista, 25 de fevereiro de 2019. PROFESSOR EVANDRO GIORA Vereador ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA ANTONIO FIAZ CARVALHO VEREADORA VEREADOR CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO DANIEL MANTOVANI DE LIMA VEREADORA VEREADOR DENIS ROBERTO BRAGHETTI DULCE DO PRADO AMATO VEREADOR VEREADORA JOSÉ RIBERTO DA SILVA JURANDI RODRIGUES CAÇULA VEREADOR VEREADOR LEANDRO BIZETTO MARCELO DE ARAÚJO VEREADOR VEREADOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS VALDIR ANTONIO ARENGHI VEREADOR VEREADOR PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 664 “Dispõe sobre a desafetação da área pública que especifica, e autoriza o Poder Executivo a outorgar cessão de uso de imóvel a Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, para implantação de sua Sede, e dá outras providências.” Art. 1.º - Fica desafetada de sua primitiva condição de bem indisponível, passando à categoria de bem disponível o imóvel localizado na Avenida Alfried Krupp, 1025 - Jardim América, Campo Limpo Paulista - SP, 13230-060, compreendendo a área e a edificação descrita no parágrafo único e indicada nas Plantas nº GLCA-AQ06-F1, GLCA-AQ08-F1. GLCA-AQ09-F1, GLCA-AQ13-F1 e GLCA-AQ15-F1 do arquivo da Secretaria de Obras e Planejamento, que fica fazendo parte integrante desta Lei Complementa. Parágrafo único. – Prédio edificado com uma área construída de aproximadamente 861,6 m², em estrutura metálica e fechamento em alvenaria, com cobertura em estrutura metálica e telhas onduladas com isolamento térmico (tipo sanduíche), os acabamentos de paredes, pisos e tetos são de acordo com o descritivo no corpo do projeto de Urbanização de área pública – Folha AQ06-F1; Sendo ainda composto por 2 pavimentos: Pavimento Térreo com Salão Aberto, 02 Salas de Estudo, 01 WC Deficiente e uma Marquise, com área total construída de 415,00 m²; Pavimento Superior composto por Salão Aberto, WC Feminino, WC Masculino, Sala Coordenação e Varanda, com área total construída de 446,60 m². Art. 2.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à cessão de uso a título gratuito à Câmara Municipal de Vereadores do Município de Campo Limpo Paulista, por prazo indeterminado. Art. 3.º - A cessão de uso de que trata o Art. 2.º desta Lei Complementar obedecerá aos termos da minuta de Termo de Cessão de Uso anexa, que fica fazendo parte integrante da Lei Complementar. Art. 4.º - A área descrita no art. 1.º destinar-se-á, exclusivamente, à instalação da sede da Câmara Municipal de Vereadores, vedada a destinação diversa, sob pena de retrocessão do imóvel a municipalidade. Art. 5.º - A presente Concessão fica dispensada de licitação pública, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, atendendo o disposto na Lei Complementar Federal nº 101/00 e Lei Federal 4.320/64. Art. 6.º - Competirá à Câmara Municipal a administração do bem imóvel de que trata a presente Lei Complementar, durante sua vigência. Art. 7.º - As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei Complementar, exceto aquelas de competência da Câmara de Vereadores, correrão à conta de dotações próprias do Orçamento vigente do Município. Art. 8.º - A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Roberto Antonio Japim de Andrade Prefeito Municipal Termo de Cessão de Uso, firmado entre a Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista e a Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, para instalação da sede da Câmara neste município. Processo nº ____/____. Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, com sede na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, em Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 45.780.095/0001-41, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Dr. ROBERTO ANTONIO JAPIM DE ANDRADE, brasileiro, casado, médico, portador da cédula de identidade RG n.º 8.573.555- 3 SSP/SP e CPF/MF n.º 016.194.858-85, denominado a seguir CEDENTE e de outro lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, com sede na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, em Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.º 51.278.885/0001-26, neste ato representada por seu Presidente, ANTONIO FIAZ CARVALHO, brasileiro, casado, vereador, portador da cédula de identidade RG n.º 10.427.789 SSP/SP e CPF/MF n.º 002.081.118-75, adiante denominada CESSIONÁRIA, conforme autorizado pela Lei Municipal nº____, de____de_________de____, sujeitando-se, ainda, às disposições da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Cessão de Uso, mediante as cláusulas e condições ora pactuadas: CLÁUSULA PRIMEIRA Do Objeto O presente Termo tem por objetivo a transferência da posse direta à CESSIONÁRIA, pelo prazo indeterminado, um prédio integrante do patrimônio público municipal, localizado na Avenida Alfried Krupp, 10235, Jardim América, Campo Limpo Paulista/SP, caracterizada pelo Prédio edificado com uma área construída de aproximadamente 861,6 m², conforme planta anexa, que fica fazendo parte integrante deste instrumento, para instalação da sede da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA permanecendo o domínio e a posse indireta do bem à CEDENTE. Parágrafo único - O prazo a que se refere esta cláusula poderá ser prolongado, mediante Termo Aditivo, a critério das partes. CLÁUSULA SEGUNDA Das Obrigações das Partes I – constituem obrigações da CESSIONÁRIA: a) utilizar a área aludida na cláusula primeira exclusivamente para o fim ali expresso, ficando estabelecido que a utilização do imóvel para qualquer outra finalidade, dependerá da anuência da CEDENTE; b) apresentar o protocolo e aprovação pela Secretária de Obras e Planejamento do projeto de reforma, adequação e ampliação para emissão do Alvará de Execução de obra; c) efetivar a ocupação da área no prazo de 12 meses, a contar da data da assinatura do presente Termo de Cessão de Uso; d) não transferir o uso do imóvel a terceiros sem prévio e expresso consentimento da CEDENTE, sob pena de retrocessão. e) Providenciar projeto de adequação de acesso de veículos e estacionamento nos fundos do imóvel, para analise e aprovação da Diretoria de Transito e Transportes; Parágrafo único - O desrespeito ao disposto nesta cláusula, bem como às leis e regulamentos municipais, acarretará a imediata cassação da presente cessão de uso, sem qualquer ônus para a CEDENTE e/ou indenização a CESSIONÁRIA. II – constituem obrigações da CEDENTE. a) comunicar, por escrito, a CESSIONÁRIA sua eventual intenção de rescindir o presente Termo de Cessão de Uso, com prazo de antecedência mínima 1 (um) ano; b) abster-se de promover qualquer ação no sentido de reaver, para uso próprio ou de terceiros, a qualquer título, a área ocupada pela CESSIONÁRIA, antes de findo o prazo estipulado na alínea “a”. CLÁUSULA TERCEIRA Das Benfeitorias As edificações e benfeitorias necessárias, realizadas em atendimento ao objeto do presente Termo, incorporar-se-ão ao imóvel, ficando a ele pertencente, não podendo ser invocado o direito do exercício de retenção. CLÁUSULA QUARTA Das Alterações e Rescisão O presente instrumento poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, mediante Termos Aditivos, bem como rescindindo de comum acordo entre as partes, a qualquer tempo, por inadimplência total ou parcial de quaisquer das obrigações ou condições pactuadas, mediante comunicação por escrito à parte inadimplente, com prova de recebimento. CLÁUSULA QUINTA Do Foro Fica eleito o foro desta Comarca de Campo Limpo Paulista, como competente, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da cessão de uso ora ajustada e que não puderem ser resolvidas pela via administrativa. E, por estarem assim justos e avençados, firmam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e para efeito de direito Campo Limpo Paulista, de de 2.019. Roberto Antonio Japim de Andrade Antonio Fiaz Carvalho Prefeito Municipal Presidente da Câmara Município (Cedente) (Cessionário) TESTEMUNHAS: 1.______________________________________ 2.______________________________________ PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 665 “Institui o novo Plano Diretor do Município de Campo Limpo Paulista, nos termos do Artigo 182 da Constituição Federal; do Capítulo III da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade.” SUMÁRIO – ESTRUTURA DA LEI TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL TÍTULO II – DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES SETORIAIS DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL CAPITULO I – DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL CAPITULO II – DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO SOCIAL CAPITULO III – DO SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO CAPITULO IV – DA MOBILIDADE URBANA CAPITULO V – DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL CAPITULO VI – DOS IMÓVEIS PÚBLICOS TÍTULO III – DO ORDENAMENTO TERRITORIAL CAPITULO I – DO MACROZONEAMENTO SEÇÃO I – DA MACROZONA AGROAMBIENTAL SEÇÃO II – DA MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SEÇÃO III – DA MACROZONA URBANA CAPITULO II – DOS SISTEMAS ESTRUTURADORES SEÇÃO I – DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SEÇÃO II – DA REDE ESTRUTURAL DO SISTEMA VIÁRIO SEÇÃO III – DA REDE ESTRUTURAL DE TRANSPORTE CAPITULO III – DO ZONEAMENTO ORDINÁRIO SEÇÃO I – DA ZONA DE PRODUÇÃO RURAL SEÇÃO II – DA ZONA ECOURBANA SEÇÃO III – DA ZONA RESIDENCIAL SEÇÃO IV – DA ZONA MISTA SEÇÃO V – DA ZONA DE CENTRALIDADE SEÇÃO VI – DA ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CAPITULO IV – DO ZONEAMENTO EXTRAORDINÁRIO SEÇÃO I – DAS ZONAS ESPECIAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA SEÇÃO II – DAS ZONAS ESPECIAS DE PROVISÃO HABITACIONAL SEÇÃO III – DAS ZONAS ESPECIAIS DE MITIGAÇÃO DE RISCO GEOAMBIENTAL SEÇÃO IV – DAS ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO CULTURAL E DA PAISAGEM SEÇÃO V – DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE INSTITUCIONAL TÍTULO IV – DOS PARÂMETROS PARA O USO, A OCUPAÇÃO E O PARCELAMENTO CAPITULO I – DAS MATRIZES URBANÍSTICAS SEÇÃO I – DAS CATEGORIAS DE USO SEÇÃO II – DAS DENSIDADES CONSTRUTIVAS E HABITACIONAIS SEÇÃO III – DAS FORMAS DE COUPAÇÃO SEÇÃO IV – DOS IMPACTOS URBANO-AMBIENTAIS CAPITULO II – DO CONTROLE DE USOS NAS ZONAS CAPITULO III – DAS TIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO PERMITIDAS NAS ZONAS CAPITULO IV – DO PARCELAMENTO DO SOLO SEÇÃO I – DOS PARÂMETROS GERAIS DE PARCELAMENTO SEÇÃO II – DOS PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE PARCELAMENTO DENTRO DAS TIPOLOGIAS MULTIFAMILIARES, MISTAS E NÃO-RESIDENCIAIS TÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA CAPÍTULO I - DA ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A POLÍTICA URBANA CAPITULO II – DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS CAPITULO III – DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS CAPITULO IV – DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR CAPITULO V – DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR CAPITULO VI – DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS CAPITULO VII – DO CONSORCIO IMOBILIÁRIO CAPITULO VIII – DO DIREITO DE PREEMPÇÃO CAPITULO IX – DO DIREITO DE SUPERFICIE CAPÍTULO X - DO ESTUDO DE IMPACTO À VIZINHANÇA E DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO CAPÍTULO XI – DA COTA DE SOLIDARIEDADE TÍTULO VI - DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA CAPITULO I – DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO PARA GESTÃO INTEGRADA E DESCENTRALIZADA SEÇÃO I – DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SEÇÃO II – DA REGIONALIZAÇÃO TERRITORIAL SEÇÃO III – DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO- AMBIENTAL CAPITULO II – DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO SEÇÃO I – DO CONSELHO DA CIDADE SEÇÃO I – DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA TÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS CAPITULO I – DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR CAPITULO II – DOS ANEXOS, MAPAS, QUADROS E GLOSSÁRIO Art.1. Em atendimento às disposições do Artigo 182 da Constituição Federal, do Capítulo III da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, fica aprovado nos termos desta Lei, o Plano Diretor de Desenvolvimento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Campo Limpo Paulista. Art. 2. O Plano Diretor de Desenvolvimento, Uso e Ocupação do Solo abrangendo a totalidade do território, é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do Município e integra o processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL Art. 3. A política urbana e ambiental devem se pautar pelos seguintes princípios: I. sustentabilidade; II. solidariedade; III. função social da cidade; IV. função social da propriedade; V. urbanização compacta; VI. acessibilidade; VII. gestão democrática e participativa. Art. 4. Sustentabilidade é o desenvolvimento local socialmente justo, ambientalmente equilibrado, culturalmente valorizado e economicamente viável, visando garantir qualidade de vida para as presentes e futuras gerações. Art. 5. A solidariedade é um princípio fundamental a partir do qual se promoverá a inclusão socioespacial, o fomento às relações socioeconômicas e culturais solidárias e cooperativas e a ampliação de oportunidades de formação, trabalho e renda. Art. 6. As funções sociais da cidade correspondem ao direito à cidade para todos, o que compreende os direitos fundamentais à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer, assim como ao ambiente e aos recursos naturais preservados. Parágrafo único. As funções sociais da cidade devem ser claramente definidas e espacializadas pelo macrozoneamento e pelos zoneamentos ordinário e extraordinário. Art. 7. A propriedade imobiliária cumpre sua função social quando, respeitadas as funções sociais da cidade definidas pelo macrozoneamento, zoneamento ordinário e extraordinário, por utilizada para: I. habitação, especialmente Habitação de Interesse Social; II. atividades econômicas geradoras de emprego e renda, inclusive rurais; III. proteção do meio ambiente e dos recursos naturais; IV. preservação do patrimônio cultural e da paisagem. Art. 8. A urbanização compacta visa otimizar os custos da infraestrutura e da estrutura urbana e se dará a partir da contenção do espraiamento da urbanização associada ao aumento das densidades habitacionais e construtivas na área urbana já consolidada ou contígua a ela. Art. 9. A acessibilidade visa ampliar e qualificar a mobilidade regional e intraurbana, por meio do sistema viário estrutural e do sistema de transporte público, promovendo a acessibilidade universal. Art. 10. A gestão da política urbana se fará de forma democrática, incorporando a participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento. Art. 11. São objetivos gerais da política urbana e ambiental: I. promover o desenvolvimento econômico local, de forma social e ambientalmente sustentável; II. garantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à terra e aos serviços públicos de qualidade; III. reverter o processo de segregação socioespacial na cidade por intermédio da oferta de áreas para produção habitacional dirigida aos segmentos sociais de menor renda, inclusive em áreas centrais, e da urbanização e regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa renda, visando à inclusão social de seus habitantes; IV. garantir a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recuperando e transferindo para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação do Poder Público; V. prevenir distorções e abusos na utilização econômica da propriedade, coibindo o uso especulativo de imóveis urbanos como reserva de valor, que resulte na sua subutilização ou não utilização, de modo a assegurar o cumprimento da função social da propriedade; VI. adequar o adensamento à capacidade de suporte do meio físico, potencializando a utilização das áreas bem providas de infraestrutura e evitando a sobrecarga nas redes instaladas; VII. promover o equilíbrio entre a proteção e ocupação das áreas de mananciais, assegurando sua função de produtora de água para consumo público; VIII. elevar a qualidade de vida da população, assegurando saneamento ambiental, infraestrutura, serviços públicos, equipamentos sociais e espaços verdes e de lazer qualificados e descentralizados; IX. estimular parcerias entre os setores público e privado em projetos de urbanização e de ampliação e transformação dos espaços públicos da Cidade, mediante o uso de instrumentos para o desenvolvimento urbano atendendo às funções sociais da cidade; X. consolidar o centro principal e os secundários, incentivando a dinamização das atividades econômicas, a ampliação das densidades habitacional e construtiva; XI. elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da proteção dos ambientes natural e construído; XII. contribuir para a construção e difusão da memória e identidade, por intermédio da proteção do patrimônio cultural, utilizando-o como meio de desenvolvimento sustentável; XIII. aumentar a eficiência econômica da Cidade, de forma a ampliar os benefícios sociais e reduzir os custos operacionais para os setores público e privado, inclusive por meio do aperfeiçoamento administrativo do setor público; XIV. estimular parcerias com institutos de ensino e pesquisa visando a produção de conhecimento científico e a formulação de soluções tecnológica e ambientalmente adequadas às políticas públicas; XV. promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem segmentos da população e se refletem no território, por meio de políticas públicas sustentáveis; XVI. criar mecanismos de planejamento e gestão participativa nos processos de tomada de decisão, acompanhamento e avaliação; XVII. integrar o planejamento local ao regional, por intermédio da cooperação e articulação com os demais Municípios da Região de Jundiaí, da Região Metropolitana de São Paulo, do Comitê do PCJ – Piracicaba, Capivari, Jundiaí e a RBCV – Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo da UNESCO, contribuindo para a gestão integrada. TÍTULO II – DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES SETORIAIS DA POLITICA URBANA E AMBIENTAL CAPITULO I – DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL Art. 12. A política de promoção do desenvolvimento econômico no Município deve estar articulada ao desenvolvimento social e à proteção do meio ambiente, visando à redução das desigualdades sociais e a melhoria da qualidade de vida da população. Art. 13. Para a consecução da política devem ser observadas as seguintes diretrizes: I. atrair novos setores produtivos para o Município, em consonância com a política de desenvolvimento regional; II. fomentar a produção rural, especialmente aquelas baseadas em organizações coletivas, como o cooperativismo ou o associativismo, organizações familiares, microempresas e minifúndios. III. fortalecer as atividades comerciais, de qualquer porte e segmento, e os serviços de apoio à produção em geral; IV. qualificar os espaços públicos, os serviços municipais e a paisagem urbana e de áreas de reserva naturais do município; V. aproveitar o potencial de zonas e regiões para a localização de atividades econômicas; VI. desenvolver relações regionais, nacionais e internacionais com associações e instituições multilaterais, bem como com organismos governamentais, no intuito de estabelecer parcerias e convênios de interesse da cidade, viabilizando financiamentos e programas de assistência técnica; VII. incentivar a articulação da economia local à regional, à nacional e à internacional. CAPITULO II – DA POLITICA DE HABITAÇÃO Art. 14. A Política Municipal de Habitação tem como objetivos: I. garantir o acesso à terra urbanizada e à moradia, melhorando as condições de habitabilidade da população; II. normatizar e divulgar os critérios para ocupação de áreas para Habitação, garantindo as condições de infra e superestrutura urbanas e condições de habitabilidade; III. garantir o equilíbrio e conciliação social, econômica e ambiental nos programas habitacionais, adequando a ocupação do território com as atividades econômicas e de gestão ambiental. Art. 15. Para a consecução da política deverão ser adotadas as seguintes diretrizes: I. requalificação urbanística e regularização fundiária dos assentamentos habitacionais precários e irregulares; II. dar apoio e suporte técnico às iniciativas individuais ou coletivas da população para produzir ou melhorar moradias em áreas de assentamento precário identificadas no Plano Diretor; III. regulamentar a produção, pela iniciativa privada, de unidades habitacionais voltadas para o mercado popular; IV. regularizar o acesso à terra, por meio do emprego de instrumentos que assegurem a utilização adequada das áreas vazias e subutilizadas; V. fiscalizar novas ocupações irregulares nas margens e faixas de proteção de rios, córregos e ribeirões em todo o território municipal; VI. fiscalizar novas ocupações irregulares em áreas de alta declividade de serras e morros em todo o território municipal; VII. implementar programas de reabilitação física e ambiental nas áreas de risco; VIII. garantir alternativas habitacionais para a população removida das áreas de risco ou decorrentes de programas de recuperação ambiental e intervenções urbanísticas; IX. recuperar as condições, a paisagem e equilíbrio ambiental das áreas legalmente protegidas, não passíveis de parcelamento e urbanização e de regularização fundiária, tais como as de mata ciliar e áreas verdes e parques; X. fortalecer os mecanismos e instâncias de participação com representantes do poder público, dos moradores e do setor produtivo na formulação e deliberação das políticas, na definição das prioridades e na implementação dos programas; XI. os responsáveis pela propriedade privada devem zelar pela fiscalização e manutenção dos espaços não edificados, não parcelados e/ou não utilizados; XII. Toda produção de habitação de interesse social – HIS e loteamentos para habitação unifamiliar na Macrozona Urbana deve ser ofertada, por um período de 90 dias, ao poder executivo municipal, para atendimento prioritário ao cadastro municipal de habitação. Art.16. Com base nos objetivos e diretrizes enunciados nesta Lei, o Poder Executivo Municipal elaborará e implementará o Plano Municipal de Habitação - PMH, contendo no mínimo três Programas: Programa de Regularização de Loteamentos; Programa de Relocação Habitacional de Áreas de Risco e de Proteção Ambiental e Programa Integrado de Recuperação e Revitalização de Áreas Verdes e de Proteção Ambiental. Art. 17. Os programas conterão: I. diagnóstico das condições de irregularidades legais, documentais e físico-espaciais de cada uma das áreas irregulares; II. diretrizes e ações estratégicas a curto, médio e longo prazo para regularização das propriedades nas áreas irregulares; III. articulação com planos e programas de serviços públicos setoriais do município; IV. formulação da legislação normatizadora de edificações habitacionais do Município, compatibilizando os parâmetros de uso, ocupação e parcelamento do solo das Zonas Especiais de Interesse Social com as normas construtivas de Habitação de Interesse Social. V. definição de áreas para relocação de população ocupante de áreas de risco ou de preservação ambiental em ocupações clandestinas e/ou invasões de áreas públicas, a serem declaradas como ZEPHA e passíveis de Direito de Preempção e/ou PEUC e IPTU Progressivo. Art. 18. Para os fins desta Lei Complementar, de forma a resguardar a finalidade social dos empreendimentos, considera-se Habitação de Interesse Social - HIS aquela destinada à população com renda familiar mensal limitada a 3 (três) salários mínimos ou às faixas 1 e 1,5 dos programas habitacionais. Considera-se HMP – Habitação de Mercado Popular aquela destinada à população com renda familiar mensal entre 3,1 e 10 (três) salários mínimos ou às faixas 2 e 3 dos programas habitacionais, ambas produzidas pelo poder público municipal ou com sua expressa anuência. Parágrafo único. Os elementos que caracterizam HIS e HMP poderão ser revistos pela Lei Municipal que instituir o Plano Municipal de Habitação - PMH. CAPITULO III – DO SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO Art. 19. A política de saneamento ambiental integrado tem como objetivo manter o meio ambiente equilibrado, alcançando níveis crescentes de salubridade, por meio da gestão ambiental, do abastecimento de água potável, da coleta e tratamento do esgoto sanitário, da drenagem das águas pluviais, do manejo dos resíduos sólidos e do reuso das águas, promovendo o equilíbrio ambiental no uso e da ocupação do solo. Art. 20. A política de saneamento ambiental integrado deverá respeitar as seguintes diretrizes: I. garantir serviços de saneamento ambiental a todo o território municipal; II. ampliar as medidas de saneamento básico para as áreas deficitárias, por meio da complementação e/ou ativação das redes coletoras de esgoto e de água, voltadas para sistemas de tratamento de esgoto em unidades compactas e respeitando as bacias hidrográficas determinantes das condições topográficas para recebimento das redes; III. investir prioritariamente no serviço de esgotamento sanitário que impeça qualquer contato direto no meio onde se permaneça ou se transita; IV. assegurar sistema de drenagem pluvial, por meio de sistemas físicos naturais e construídos, o escoamento das águas pluviais em toda a área ocupada do Município, de modo a propiciar a recarga dos aquíferos, a segurança e o conforto aos seus habitantes; V. complementar, rever e redimensionar, ampliar as existentes e executar a rede coletora de águas pluviais e do sistema de drenagem nas áreas urbanizadas do território, de modo a minimizar a ocorrência de alagamentos; VI. assegurar à população do Município oferta domiciliar de água para consumo residencial e outros usos, em quantidade suficiente para atender as necessidades básicas e de qualidade compatível com os padrões de potabilidade; VII. promover a educação ambiental como instrumento para sustentação das políticas públicas ambientais, buscando a articulação com as demais políticas setoriais; VIII. promover a qualidade ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, por meio do planejamento e do controle ambiental; IX. garantir a preservação da Área de Proteção Permanente do Rio Jundiaí e das unidades de conservação, especificamente da AP A do Rio Jundiaí-Mirim; X. promover a recuperação ambiental, revertendo os processos de degradação das condições físicas, químicas e biológicas do ambiente; XI. promover o manejo da vegetação urbana de forma a garantir a proteção das áreas de interesse ambiental e a diversidade biológica natural; XII. implementar programas de reabilitação das áreas de risco; XIII. considerar a paisagem urbana e os elementos naturais como referências para a estruturação do território; XIV. estabelecer o Sistema Municipal de Espaços Livres, Áreas Verdes e de Lazer, com cadastro das áreas e ações de manutenção e preservação com plantio de espécies vegetais e equipamentos de lazer. CAPITULO IV – DA MOBILIDADE URBANA Art. 21. São objetivos do Sistema de Mobilidade Urbana: I. priorizar e qualificar a acessibilidade cidadã - pedestres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida - sobre o transporte motorizado; II. priorizar o transporte coletivo sobre o individual; III. reduzir a necessidade de deslocamento; garantir a fluidez do trânsito, mantendo-se os níveis de segurança definidos pela comunidade técnica; IV. considerar as questões de logística empresarial no sistema de mobilidade urbana, garantindo a fluidez no transporte de cargas e mercadorias, visando o desenvolvimento econômico; V. promover a vanguarda tecnológica-ambiental dos componentes do sistema de transporte coletivo, garantindo eficiência operacional, segurança, conforto e sustentabilidade ambiental; VI. qualificar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo; VII. articular o Sistema de Mobilidade Urbana do município com o metropolitano e o estadual, existente e planejado, especialmente após a aprovação do PDUI – Plano de desenvolvimento Urbano Integrado da Aglomeração Urbana de Jundiaí. Parágrafo único. Entende-se por Sistema de Mobilidade Urbana a articulação e integração dos componentes estruturadores da mobilidade?trânsito, transporte, sistema viário, educação de trânsito e integração regional? de forma a assegurar o direito de ir e vir, com sustentabilidade, e considerando a melhor relação custo/benefício social. Art. 22. Com base nos objetivos enunciados no artigo anterior, e de acordo com o disposto no § 2º do artigo 41 do Estatuto da Cidade, deverá ser elaborado o Plano Diretor de Mobilidade Urbana, contendo no mínimo: I. revisão da hierarquização viária; II. melhorias e ampliações de vias existentes, adequando a uma rede hierarquizada tendo como parâmetro e critérios a definição de rede de transporte com identificação de vias e respectivos usos para transporte; III. definir e qualificar corredores de transporte coletivo; IV. qualificar o sistema de atendimento às pessoas com deficiência ou necessidades especiais; V. ordenar o tráfego de veículos de turismo e de passagem que utilizam as vias locais e de escala intermunicipal e estadual; VI. implantar sistemas de rotas e tarifas da frota de transporte coletivo; VII. caracterização dos fluxos predominantes de pessoas e bens, identificando por intermédio da pesquisa de origem e destino: a. principais regiões de origem e destino; b. modos de circulação; c. motivos das viagens; d. horários e volumetrias das viagens; VIII. identificação dos principais trechos com problemas de mobilidade: a. acidentes de trânsito; b. congestionamentos; c. poluição sonora, atmosférica e visual; IX. simulação de cenários para caracterização dos fluxos de mobilidade de demandas futuras, de macro empreendimentos públicos ou privados e dos geradores ou atratores de viagens; X. elaboração de plano específico para o sistema cicloviário; XI. ordenamento da circulação de cargas na Macrozona Urbana e Macrozona de Desenvolvimento Econômico, especialmente para o tráfego de cargas perigosas e superdimensionadas. Art. 23. O Poder executivo municipal deverá aprovar o projeto de lei específica para redefinição dos PGT – Polos Geradores e Tráfego e as exigências de mitigação e controle de impactos urbano-ambientais. CAPITULO V – DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL E CULTURAL Art. 24. A Política Municipal de Patrimônio Ambiental e Cultural visa valorizar a preservação de ambientes naturais de qualidade paisagística e de manutenção do equilíbrio ecológico, além da garantia de renovação de recursos naturais e visa preservar e valorizar o legado cultural transmitido pela sociedade, protegendo suas expressões materiais e imateriais e as paisagens culturais. § 1º. Entende-se por patrimônio material as expressões e vestígios materiais de caráter histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico, tecnológico e urbanístico. § 2º. Entende-se por patrimônio imaterial os conhecimentos e modos de fazer identificados como elementos pertencentes à cultura comunitária, os rituais e celebrações que marcam a vivência coletiva do trabalho, a religiosidade, o entretenimento e outras práticas da vida social, bem como as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, as tradições, os costumes, os modos de fazer e lugares com identidade e significados imateriais compartilhados e reconhecidos. § 3º. Entende-se por paisagens culturais as paisagens territorialmente delimitadas, criadas pelo homem, por ele percebida ou apropriada culturalmente capazes de expressar relações que, ao longo do tempo, vem se estabelecendo entre a sociedade ou grupos sociais específicos e o território, de forma que nelas estão contidos os remanescentes materiais e expressões imateriais das atividades desenvolvidas pelo homem, bem como sua historicidade e suas práticas cotidianas, suas experiências, celebrações, formas de expressão, identidades e tradições. As paisagens culturais revelam a diversidade e singularidades da cultura dos povos, suas conexões com a cultura regional e nacional, seus processos e distintos períodos históricos, econômicos e urbanos. Art. 25. São objetivos da Política Municipal de Patrimônio Ambiental e Cultural: I. ampliar o reconhecimento de valor dos patrimônios naturais, culturais e das paisagens; II. tornar reconhecido e apropriado pelos cidadãos o valor cultural dos patrimônios e paisagens; III. desenvolver o potencial turístico dos patrimônios e paisagens, de forma sustentável; IV. garantir que o patrimônio arquitetônico tenha usos compatíveis com a edificação; V. estabelecer e consolidar a gestão participativa do patrimônio ambiental e cultural. VI. criar um Conselho Municipal de Patrimônio Ambiental e Cultural - COMPAC, para reconhecimento e gestão do patrimônio cultural e ambiental, de unidades de conservação e locais de paisagem natural e cultural de preservação necessária ao equilíbrio e sustentabilidade de uso e ocupação. Art. 26. Para se alcançar os objetivos de promoção da Política Municipal de Patrimônio Ambiental e Cultural, o COMPAC deverá ser instituído por lei complementar, contendo: I. definição da composição e atribuições do COMPAC e suporte técnico para os mesmos; II. as estratégias para inclusão dos elementos componentes do patrimônio ambiental e cultural e das paisagens nas políticas públicas municipais; III. as estratégias de integração com os diversos setores da administração municipal para preservação dos patrimônios, especialmente programas municipais para educação para preservação e valorização do patrimônio ambiental e cultural e da paisagem. Art.27. São instrumentos para a preservação do patrimônio ambiental, cultural e das paisagens; I. as Zonas Especiais de Preservação da Paisagem e dos Patrimônios – ZEPP; II. o inventário dos patrimônios naturais e culturais e das paisagens; III. o tombamento do patrimônio cultural e natural material; IV. o registro do patrimônio cultural imaterial; V. a chancela da paisagem cultural. Parágrafo único. Estes instrumentos deverão ser instituídos e regulamentados por lei específica no prazo máximo de 2 (dois) anos após aprovação deste Plano Diretor. Art. 28. Caberá ao Conselho de Patrimônio Ambiental e Cultural elaborar um Plano de Preservação e Valorização dos Patrimônios e Paisagens, contendo: I. o inventário dos patrimônios naturais, culturais materiais e imateriais e das paisagens e paisagens culturais significativas; II. o apontamento dos limites territoriais dos patrimônios de interesse, com indicação de tombamento, registro, chancela da paisagem cultural e das ZEPP ; III. definição dos planos de preservação de cada bem identificado e reconhecido; IV. a definição das funções públicas e sociais, usos, compensações e incentivos para fins de preservação; V. os mecanismos de captação de recursos para a política de preservação e conservação. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Patrimônio Ambiental e Cultural, assim como o respectivo plano, serão instituídos por lei específica no prazo máximo de 02 (dois) anos após aprovação deste Plano Diretor. CAPITULO VI – DOS IMOVEIS PÚBLICOS Art. 29. A gestão e uso dos imóveis públicos se dará mediante as seguintes diretrizes: I. garantia de destinação a todos os imóveis públicos, de forma a otimizar, ao máximo, suas potencialidades; II. implantação de um sistema de banco de dados de áreas públicas, garantindo informações atualizadas acerca da origem, do uso e da regularidade perante o registro público de identificação e delimitação de imóveis, bem como separatas para imóveis aptos a: a) viabilizar programas habitacionais de interesse social; b) implantar equipamentos públicos e comunitários; c) implantar infraestrutura e serviços urbanos; III. estabelecimento de efetivo controle sobre os bens imóveis públicos, quando necessário, com o apoio da comunidade do entorno de cada área; IV. estabelecimento de critérios para a utilização de imóveis públicos por terceiros, com fiscalização permanente da adequação do uso aos termos da cessão. Art. 30. Para viabilizar os objetivos formulados no artigo anterior, poderá o Poder Executivo, dentre outras medidas: I. alienar, respeitadas as cautelas legais, de forma onerosa todos os imóveis considerados inaproveitáveis para uso público, em especial aqueles com: a) dimensões reduzidas; b) topografia inadequada, com declividades acentuadas; c) condições de solo inadequadas à edificação; d) formato inadequado. II. inserir informações pertinentes acerca dos imóveis públicos no Cadastro Imobiliário Municipal; III. viabilizar formas de aquisição de imóveis, a fim de atender a utilidade e a necessidade pública e o interesse social, e que não compreendam a desapropriação. TÍTULO III – DO ORDENAMENTO TERRITORIAL Art. 31. O desenvolvimento, a regulação e a indução do parcelamento, uso e ocupação do solo se organizará pelo Sistema de Planejamento, Ordenamento Territorial e Gestão, composto pelo: I. Macrozoneamento; II. Sistemas Estruturadores; III. Zoneamento Ordinário; IV. Zoneamento Extraordinário; V. Matrizes Urbanísticas para o Parcelamento, Uso e Ocupação; VI. Regionalização Territorial para Gestão Integrada e Descentralizada. Art. 32. O Sistema de Planejamento, Ordenamento Territorial e Gestão tem como objetivos: I. organizar o desenvolvimento sustentável da cidade, gerando qualidade das áreas urbanizadas e preservação dos recursos naturais; II. regulamentar as condições e restrições de uso, ocupação e parcelamento do solo; III. regular a proximidade ou conflitos entre usos e atividades incompatíveis ou inconvenientes; IV. aproveitar a infraestrutura urbana instalada e prever sua implantação ou adequação onde haja necessidade; V. combater a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização. CAPITULO I – DO MACROZONEAMENTO Art. 33. O Macrozoneamento é a primeira camada de organização territorial delimitada a partir dos condicionantes ambientais, topográficos, hidrográficos, de cobertura vegetal, de usos e atividades produtivas, da urbanização e dos vetores de expansão urbana, reconhecendo vocações, valores, problemas e oportunidades. Define os grandes objetivos e as primeiras funções sociais de cada porção da cidade, estabelecendo as regras fundamentais de uso e ocupação do território para direcionar o desenvolvimento futuro. Art. 34. O território do Município fica dividido em três Macrozonas: I. Macrozona Agroambiental; II. Macrozona de Desenvolvimento Econômico III. Macrozona Urbana Parágrafo único. Os perímetros das macrozonas estão definidos no Mapa 1. SEÇÃO I – DA MACROZONA AGROAMBIENTAL Art. 35. A MACROZONA AGROAMBIENTAL corresponde à área com grande parte do ambiente natural preservado, fragmentos de mata, importantes recursos hídricos e mananciais, áreas de produção rural e ocupação urbana rarefeita e de baixa densidade e áreas com topografia inadequadas à ocupação urbana. Art. 36. A MACROZONA AGROAMBIENTAL tem como objetivos: I. Promover a proteção e recuperação ambiental, dos mananciais e da biodiversidade, garantindo a renovação dos recursos naturais; II. Promover o desenvolvimento econômico sustentável, especialmente a produção rural; III. Permitir atividades econômicas compatíveis com a preservação ambiental e a produção de água; IV. Promover a preservação cultural ligada ao ambiente natural e rural por meio do uso turístico sustentável; V. Incentivar a produção coletiva e cooperativa agroambiental e ecourbana; VI. Manter a baixa densidade construtiva e habitacional nas áreas passíveis de ocupação urbana; VII. Impedir o parcelamento e a ocupação do solo em áreas de risco por declividades elevadas, sujeitas e enchentes e de preservação ambiental da rede hídrica; VIII. Promover a regularização fundiária e urbanística. Art. 37. O parcelamento, a ocupação e a regularização fundiária e urbanística nesta Macrozona somente serão permitidos mediante a implantação de infraestrutura verde. Art. 38. Entende-se por infraestrutura verde aqueles parcelamentos com impacto mínimo de urbanização sobre o ambiente natural, especialmente sobre recursos hídricos, dispondo dos itens abaixo: I. O leito carroçável do sistema viário deverá ter, no mínimo, 25% de permeabilidade; II. Auto suficiência no tratamento de efluentes de esgoto, através de tratamentos biológicos e sustentáveis; III. Altas taxas de permeabilidade do solo e arborização; IV. Implantação de dispositivos de retenção e infiltração pontuais ao longo do sistema viário e das redes de drenagem; V. Biovaleta, definida como condutor de águas pluviais permeável, a ser implantada dentro da faixa definida como passeio do sistema viário; VI. Jardim de chuva, definida como jardim de retenção, filtração e infiltração das águas pluviais; VII. Bacia de retenção verde, definida como reservatórios permeáveis para quantidades maiores de águas pluviais, que tem a tripla função de retenção, filtração e infiltração no solo; VIII. Reaproveitamento de águas pluviais a partir da captação individual nas edificações a serem implantadas nos lotes. Parágrafo único. O empreendimento deverá dispor de, no mínimo, 5 (cinco) dos itens acima, sendo obrigatórios os itens I e II. SEÇÃO II – DA MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Art. 39. A MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO corresponde à área com ocupação não residencial e áreas próximas ao sistema rodoferroviário e viário estrutural, com vocação para expansão de usos geradores de desenvolvimento econômico, produção, trabalho e renda. Art. 40. A MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO tem como objetivos: I. Garantir áreas para o desenvolvimento econômico e oferta de trabalho, especialmente indústrias, serviços ligados à indústria, logística, comércio atacadista, tecnologia, pesquisa, educação e saúde de grande portes; II. Concentrar usos não-residenciais de grande, médio e pequeno impactos urbano- ambientais; III. Promover a proteção dos atributos ambientais presentes na área, como matas, recursos hídricos, APP – Áreas de Preservação Permanente, entre outros; IV. Permitir o monitoramento e controle ambiental; V. Permitir a implantação de infraestrutura verde nos loteamentos novos e existentes. Parágrafo único. Nesta Macrozona não serão permitidos os usos residenciais e mistos. SEÇÃO III – DA MACROZONA URBANA Art. 41. A MACROZONA URBANA corresponde à área com urbanização consolidada, de recuperação urbano-ambiental, de transformação e de expansão urbana. Art. 42. A MACROZONA URBANA tem como objetivos: I. Garantir as qualidades das áreas urbanas consolidadas; II. Promover o adensamento nas proximidades do sistema estrutural de transporte público e nas centralidades; III. Possibilitar a instalação de maior mistura de usos residenciais e não-residenciais, desde que atendidos os parâmetros de impactos urbano-ambientais definidos nesta lei. IV. Garantir a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados; V. Garantir o acesso à cidade e à moradia digna, especialmente provendo habitação de interesse social; VI. Promover a regularização fundiária e urbanística; VII. Promover a qualificação das áreas urbanas com vulnerabilidades socioeconomicas, ambientais, geomorfológicas ou com urbanização precária; VIII. Promover a preservação cultural e das paisagens significativas; IX. Completar a infraestrutura e equipamentos urbanos necessários; X. Promover a conservação ambiental dos recursos hídricos, APPs, matas, praças, parques ou similares; XI. Restringir o parcelamento e a ocupação do solo em áreas de risco por declividades elevadas, sujeitas à enchentes e de preservação ambiental da rede hídrica; XII. Permitir a implantação de infraestrutura verde nos loteamentos novos e existentes. CAPITULO II – DOS SISTEMAS ESTRUTURADORES Art. 43. Os sistemas estruturadores constituem-se de uma síntese das principais estruturas físico- territoriais capazes de orientar o desenvolvimento, os usos e a ocupação do solo. Organizam-se em 3 camadas interativas: as Zonas de Proteção Ambiental, Sistema Viário Estrutural e o Sistema Estrutural de Transporte Coletivo. SEÇÃO I – DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Art. 44. A Zona de Proteção Ambiental é composta pelo sistema estruturador dos espaços livres de significativo interesse ambiental, contendo APP – Áreas Preservação Permanente, fragmentos de mata, Reservas Ambientais do CAR – Cadastro Ambiental Rural, parques, praças e áreas verdes públicas, Unidades de Conservação Ambiental, entre outros. Parágrafo único. Os perímetros desta zona estão definidos no Mapa 2. Art. 45. A Zona de Proteção Ambiental tem como objetivos: I. conservar os recursos naturais, especialmente aqueles formadores recursos hídricos e dos mananciais; II. promover a manutenção da qualidade ambiental; III. recuperar ambientalmente as áreas degradadas; IV. reflorestar áreas de interesse ambiental; V. garantir a vida da flora e da fauna. SEÇÃO II – DO SISTEMA VIÁRIO ESTRUTURAL Art. 46. O Sistema Viário Estrutural é composto por todas as vias de tráfego urbano existentes e as diretrizes para implantação de novas vias e deve estabelecer as condições para a implantação de infraestrutura, a ordenação de fluxos, acessibilidade e mobilidade plenas no território. Art. 47. São objetivos do Sistema Viário Estrutural: I. garantir condições de deslocamento seguros utilizando meios de transporte públicos e privados; II. estabelecer ligações para minorar distâncias e economia de fontes de energia; III. diferenciar as vias para organizar melhor os fluxos de circulação de cargas, automóveis, transporte coletivo, bicicletas e pedestres; IV. considerar as questões de logística empresarial no sistema viário, garantindo a fluidez na acessibilidade de transporte turístico, visando o desenvolvimento econômico. Art. 48. O Sistema Viário Estrutural organiza-se em 6 categorias com a seguinte hierarquia: I. Rodovias – ROD; (antiga RE) II. Vias Arteriais Primárias – VA; (antiga E1) III. Vias Arteriais Turísticas – VAT; (antiga E1T) IV. Vias Arteriais Secundárias – VCP; (antiga E2) V. Vias Coletoras – VC; (antiga E3) VI. Vias Locais - VL. (antiga E4 e E5) Parágrafo único. O Sistema Viário Estrutural e as Diretrizes Viárias estão definidos pelo Quadro 1 e identificadas no Mapa 3. Art. 49. Nas novas vias a serem implantadas deve-se considerar a largura de 10 m (dez metros) não edificável para cada lado. Nos alargamentos futuros de vias existentes, não edificar em 7,5 m (sete metros e cinquenta centímetros) para cada lado. Parágrafo único. Nos casos de novos parcelamentos o sistema viário oficial deverá dispor de infraestrutura de energia elétrica e iluminação pública. SEÇÃO III – DA REDE ESTRUTURAL DE TRANSPORTE Art. 50. A Rede Estrutural de Transporte é composto pelo sistema de ônibus urbano e interurbano, sistema ferroviário da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que dispõe de duas estações ferroviárias de Campo Limpo Paulista, pelo sistema cicloviário e pelo sistema de transporte rodoferroviário de cargas, visando a mobilidade plena no território. Parágrafo único. A Rede Estrutural de Transporte Coletivo está identificada no Mapa 4. Art. 51. São objetivos da Rede Estrutural de Transporte: I. Priorizar o transporte coletivo sobre o individual; II. Melhorar a qualidade do serviço de transporte coletivo existente; III. Implantar o serviço de transporte coletivo onde ele seja necessário; IV. Melhorar o conforto e a conectividade nas estações ferroviárias e terminais rodoviários; V. Projetar e implantar o sistema cicloviário. CAPITULO III – DO ZONEAMENTO ORDINÁRIO Art. 52. O zoneamento ordinário institui as regras gerais de parcelamento, uso e ocupação do solo para cada uma das Zonas em que se subdividem as Macrozonas e classificam-se em: I. ZONA DE PRODUÇÃO RURAL; II. ZONA ECOURBANA; III. ZONA RESIDENCIAL; IV. ZONA MISTA; V. ZONA DE CENTRALIDADE; VI. ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Parágrafo único. Os perímetros das zonas ordinárias estão definidos no Mapa 5. SEÇÃO I – DA ZONA DE PRODUÇÃO RURAL Art. 53. A Zona de Produção Rural (ZPU) corresponde a porções da Macrozona Agroambiental destinada à promoção da atividade rural, com sustentabilidade ambiental e preservação dos recursos naturais, especialmente a água. É permitido o uso residencial e misto, gabarito horizontal, e os núcleos ecourbanos devem dispor de infraestrutura verde e manter as baixas densidades construtiva e habitacional. SEÇÃO II – DA ZONA ECOURBANA Art. 54. A Zona Ecourbana (ZEC) corresponde a porções da Macrozona Agroambiental destinada à promoção e preservação dos bairros ecourbanos, situados na transição com áreas rurais, urbanas e/ou de preservação ambiental, com ocupação de baixas densidades construtiva e habitacional, gabarito horizontal e uso majoritariamente residencial, admitidos usos não residencial, misto, ambiental e de produção rural. Os bairros, loteamentos e ocupações devem dispor de infraestrutura verde. Parágrafo único. Esta zona é subdividida em Zona Ecourbana 1 (ZEC 1), Zona Ecourbana 2 (ZEC 2) e Zona Ecourbana 3 (ZEC 3), em razão das diferentes densidades e estruturas fundiárias permitidas, conforme estabele o Quadro 3. SEÇÃO III – DA ZONA RESIDENCIAL Art. 55. A Zona Residencial (ZR) corresponde a porções da Macrozona Urbana destinada à preservação e incentivo ao uso majoritariamente residencial, com densidades habitacional e construtiva baixas, gabarito horizontal, permitidos restritivamente os usos não residencial e misto. SEÇÃO IV – DA ZONA MISTA Art. 56. A Zona Mista (ZM) corresponde a porções da Macrozona Urbana destinada a promover a diversificação de usos residencial, não residencial e misto, com densidades habitacional e construtiva médias e gabaritos horizontal e vertical baixo. SEÇÃO VI – DA ZONA DE CENTRALIDADE Art. 57. A Zona de Centralidade (ZC) corresponde a porções da Macrozona Urbana destinada à diversificação de usos, com predominância de usos não residenciais e mistos, que consolidem e ampliem a oferta de comércio, serviços, equipamentos públicos, empregos e moradia, articulando-os à rede de mobilidade existente e prevista, com densidades habitacional e construtiva altas e gabaritos horizontal e vertical médio. SEÇÃO V – DA ZONA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Art. 58. A Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) corresponde a Macrozona de Desenvolvimento Econômico destinada sobretudo às atividades de produção, transformação, prestação de serviços industriais e de logística, ciência, pesquisa, tecnologia, informação, comércio atacadista, educação e saúde de grande portes, permitindo gabaritos horizontal e vertical baixo, objetivando aproveitar as vantagens locacionais da infraestrutura de mobilidade regional e intraurbana. Parágrafo único. Nesta zona não serão permitidos os usos residenciais e mistos. CAPITULO IV – DO ZONEAMENTO EXTRAORDINÁRIO Art. 59. As Zonas Extraordinárias compreendem áreas do território que exigem estratégias especiais de desenvolvimento urbano, social, econômico, ambiental ou cultural e/ou tratamento especial quanto à provisão de infraestrutura urbana, sobrepondo-se ao zoneamento ordinário, e classificam-se em: I. ZONAS ESPECIAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA – ZERF; II. ZONAS ESPECIAS DE PROVISÃO HABITACIONAL – ZEPHA; III. ZONAS ESPECIAIS DE MITIGAÇÃO DE RISCO GEOAMBIENTAL – ZEMIR; IV. ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM E DOS PATRIMÔNIOS – ZEPP; V. ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE INSTITUCIONAL – ZEIN. Parágrafo único. As Zonas Especiais deverão obedecer aos parâmetros de parcelamento, uso e ocupação da Zona onde se localizam, exceto para as ZERF, cujos projetos de regularização urbanística exigirão parâmetros específicos para cada caso. SEÇÃO I – DAS ZONAS ESPECIAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA Art. 60. As Zonas Especiais de Regularização Fundiária e Urbanística (ZERF) compreendem a áreas públicas ou particulares ocupadas irregularmente por assentamentos de população de baixa renda e são destinadas à regularização fundiária e urbanística, à qualificação da infraestrutura urbana, com implantação de equipamentos públicos, inclusive de recreação e lazer, e comércio e serviços de caráter local, se houver necessidade. Parágrafo único. Os perímetros das ZERF estão definidos no Mapa 6. SEÇÃO II – DAS ZONAS ESPECIAS DE PROVISÃO HABITACIONAL Art. 61. As Zonas Especiais de Provisão Habitacional (ZEPHA) compreendem terrenos não edificados e/ou imóveis subutilizados ou não utilizados, necessários à implantação de programas habitacionais de interesse social, que deverão ser urbanizados e dotados de equipamentos públicos quando necessário. Parágrafo único. Os perímetros das ZEPHA estão definidos no Mapa 6. Art. 61. Os empreendimentos habitacionais na ZEPHA: I. Deverão destinar, no mínimo, 50% de unidades habitacionais para HIS – Habitação de Interesse Social, definidas conforme Art. 18.; II. Deverão destinar 40% de unidades habitacionais para HIS ou HMP – Habitação de Mercado Popular, definidas conforme Art. 18; III. Em terrenos acima de 20 mil m2 deverá destinar 10% para os demais usos permitidos na zona ordinária a qual a ZEPHA se sobrepõe; IV. Como incentivo para a produção de HIS – Habitação de Interesse Social será permitido gabarito de até 4 pavimentos para a tipologia HMH – Habitação Multifamiliar Horizontal, obedecendo demais parâmetros estabelecidos nesta lei. Art. 62. Os empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP) de grande porte deverão realizar Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), conforme parâmetros definidos no Título V, Capítulo X desta lei. Art. 63. O Poder Executivo Municipal deverá controlar a distribuição da provisão habitacional de interesse social, de acordo com as proporções de faixas de renda definidas na ZEPHA, mediante comprovação de renda do comprador ou mutuário ao incorporador ou financiador dos projetos de HIS e HMP. SEÇÃO III – DAS ZONAS ESPECIAIS DE MITIGAÇÃO DE RISCO GEOAMBIENTAL Art. 64. As Zonas Especiais de Mitigação de Risco GEOAMBIENTAL (ZEMIR) compreendem áreas do território que apresentam diferentes graus de instabilidade geológicas, hidrológicas, geomorfológicas, hidroquímicas, entre outros que possam provocar deslizamentos de terra, alagamentos, erosões, rachaduras em edificações, enchentes, etc, colocando em risco a vida dos que habitam ou circulam em áreas já urbanizadas ou não do território. Parágrafo único. Os perímetros das ZEMIR estão definidos no Mapa 7. Art. 65. Os graus de risco classificam-se em baixo, médio, alto e muito alto, conforme relatório técnico elaborado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. § 1º. O poder público municipal poderá realizar, com ou sem parcerias, intervenções e obras de mitigação dos riscos indicados no referido relatório. § 2º. Enquanto as referidas intervenções e obras não estiverem executadas fica proibida a aprovação de obras novas de edificações em lotes ou parcelamento de glebas, podendo-se apenas aprovar reformas cujos objetivos sejam de melhoria ou mitigação dos riscos geoambientais identificados na ZEMIR. SEÇÃO IV – DAS ZONAS ESPECIAIS DE PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM E DOS PATRIMÔNIOS – ZEPP Art. 66. As Zonas Especiais de Preservação da Paisagem e dos Patrimônios – ZEPP são áreas formadas por sítios, ruínas e conjuntos de relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural, paisagística, lugares de celebrações, práticas e usos tradicionais, religiosos ou espirituais, áreas de interesse à preservação do patrimônio natural, da paisagem e da paisagem cultural, cuja manutenção seja necessária à preservação do patrimônio cultural, material ou imaterial, e natural do município. Parágrafo único. Os perímetros das ZEPP estão definidos no Mapa 8. Art. 67. O poder público municipal deverá elaborar posteriormente as diretrizes de preservação, gestão e usos estratégicos para estas Zonas Especiais de Preservação da Paisagem e dos Patrimônios – ZEPP em lei específica. SEÇÃO V – DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE INSTITUCIONAL – ZEIN Art. 68. As Zonas Especiais de Interesse Institucional – ZEIN são áreas onde o poder público municipal, estadual ou federal pretendem implantar usos não residenciais institucionais, públicos ou particulares, de interesse coletivo, estratégicos ou necessários ao desenvolvimento urbano do município, conforme segue: I – As áreas demarcadas como ZEIN são destinadas preferencialmente a usos não residenciais institucionais, conforme demanda do poder público municipal; II – Outros usos permitidos na zona ordinária poderão ser aprovados somente quando descartados os usos institucionais ou compatíveis com o mesmo, conforme interesse do poder público municipal, devidamente justificados e aprovados pelo Conselho da Cidade; III – Os usos deverão seguir os padrões edilícios estabelecidos no zoneamento ordinário ao qual se sobrepõe a ZEIN, poderém com lote mínimo de 500 m2 (quinhetos metros quadrados) e testada mínima de 15 m (quinze metros); IV – Os perímetros das ZEIN estão definidos no Mapa 8; § 1º. Serão demarcadas ZEIN-C para o caso específico da implantação de cemitérios, de interesse institucional público ou privado. Estas poderão se sobrepor em qualquer área da Macrozona Urbana ou de Desenvolvimento Econômico, a partir da anuência dos órgãos ambientais competente; § 2º. De posse dos documentos ambientais que autorizam a implantação de cemitério em determinada área, o Poder Executivo Municipal deverá analisar o projeto e exigir o EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança e as medidas compensatórias e mitigatórias, quando houver; § 3º. A área aprovada para Cemitério será estabelecida como ZEIN-C por decreto até o limite de 60 mil m2 (sessenta mil metros quadrados) e terá validade por 2 (dois) anos, prescrevendo caso a obra não inicie neste prazo. TÍTULO IV – DOS PARÂMETROS PARA O USO, A OCUPAÇÃO E O PARCELAMENTO CAPITULO I – DAS MATRIZES URBANÍSTICAS Art. 69. O ordenamento do uso e da ocupação do solo dar-se-á pela combinação das seguintes matrizes urbanísticas: I. USOS: definidos pelas categorias residencial, não residencial, misto e ambiental; II. FORMAS DE OCUPAÇÃO: definidas pelas tipologias horizontais e verticais de edificações e seus respectivos gabaritos, pelo espaço de fruição pública e pelos índices de permeabilidade e arborização; III. DENSIDADES CONSTRUTIVAS E HABITACIONAIS: definidas pelos coeficientes de aproveitamento, pelas frações mínimas e máximas de unidades habitacionais por hectare e pelas dimensões mínimas e máximas dos lotes; IV. IMPACTOS URBANO-AMBIENTAIS: definidos pela disciplina dos distintos níveis de impactos dos usos não residenciais conviventes com os usos residenciais. SEÇÃO I – DAS CATEGORIAS DE USO Art. 70. São definições da matriz urbanística USO: I. USO RESIDENCIAL: destinado exclusivamente à moradia unifamiliar ou multifamiliar; II. USO NÃO RESIDENCIAL: destinado a atividades voltadas ao comércio, serviços, indústria, institucional e rural; III. USO MISTO: destinado à instalação, no mesmo lote ou edificação, de uso residencial e qualquer uso não residencial; IV. USO AMBIENTAL: destinado a atividades compatíveis com a conservação e recuperação do ambiente natural. SEÇÃO II – DAS DENSIDADES CONSTRUTIVAS E HABITACIONAIS Art. 71. São definições da matriz urbanística DENSIDADES CONSTRUTIVAS E HABITACIONAIS: I. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: é o fator pelo qual deve ser multiplicada a área do lote para obtenção da área máxima de construção permitida para uma edificação; II. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO: é o que resulta do potencial construtivo gratuito definido pelo zoneamento ordinário; III. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÁXIMO: é o limite máximo de aproveitamento definido pelo zoneamento ordinário e que pode ser adquirido mediante o pagamento de outorga onerosa do direito de construir; IV. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO MÍNIMO: é o limite mínimo exigido para que o imóvel não seja considerado subutilizado; V. LOTE MINIMO E MÁXIMO: são os tamanhos mínimos e máximos, respectivamente, de lotes permitidos, que definem a estrutura fundiária e as densidades; VI. FRAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA DE UNIDADES HABITACIONAIS POR HECTARE: é o número mínimo e máximo, respectivamente, de unidades habitacionais permitidas por hectare, definido pelo zoneamento ordinário. SEÇÃO III – DAS FORMAS DE OCUPAÇÃO Art. 72. São definições da matriz urbanística FORMAS DE OCUPAÇÃO: I. EDIFICAÇÃO HORIZONTAL: todo edifício com gabarito de até 10m (dez metros) de altura e no máximo 3 (três) pavimentos, descontadas casas de máquina e caixas d’água, contados desde o nível térreo, sendo que, nos terrenos com desnível acentuado, o gabarito será medido na linha de projeção horizontal da fachada da edificação; II. EDIFICAÇÃO VERTICAL: todo edifício com gabarito superior a 10m (dez metros) de altura e no máximo 12 (doze) pavimentos, descontadas a casa de máquinas e caixas d’água, contados desde o nível térreo, sendo que, nos terrenos com desnível acentuado, o gabarito será medido na linha de projeção horizontal da fachada da edificação; III. GABARITO: é a altura previamente fixada da edificação, medida entre o nível do ponto médio da guia referente à testada do lote e o plano horizontal que passa pelo ponto mais alto da mesma e/ou pelo número de pavimentos; IV. TAXA DE OCUPAÇÃO (TO): é a relação entre a projeção horizontal da área edificada e a área do lote, expressa em percentual de área ocupada; V. RECUO: é a menor distância, medida em projeção horizontal, entre a divisa do lote e o limite externo da área ocupada, com a finalidade de garantir ventilação e iluminação naturais à edificação; VI. ESPAÇO DE FRUIÇÃO PÚBLICA (EFP): é o espaço interno ao lote no térreo, destinado ao uso público, coberto ou descoberto, desimpedido de qualquer barreira física ou fechamento no período das 9h às 20h, com acesso público de no mínimo 3 (três) metros e acessível a todos, inclusive às pessoas com mobilidade reduzida ou deficiências; VII. ÍNDICE DE FRUIÇÃO PÚBLICA (IF): é a razão entre o Espaço de Fruição Pública (EFP) e a Área Total do Lote (AT) e pode se sobrepor à área permeável ou semipermeável; VIII. PERMEABILIDADE VISUAL DA TESTADA: é parte da testada do lote, quando da ocorrência de recuo frontal, que permite a interação visual com o logradouro público; IX. PÉ-DIREITO MÍNIMO: é a altura mínima de 2,70 metros entre o piso e o teto de um pavimento; X. INDICE DE PERMEABILIDADE VISUAL DA TESTADA (IPVT): é razão entre a medida linear da testada do lote que permite a interação visual e a medida linear total da testada; XI. ÁREA PERMEÁVEL (AP): é a área de solo natural permeável às águas pluviais, preferencialmente coberta por vegetação, podendo eventualmente ser coberta por areia, pedrisco ou pisos vazados de concreto ou similares; XII. TAXA DE PERMEABILIDADE (TP): é a relação percentual entre a parte permeável do lote, que permita a infiltração de água no solo, livre de qualquer edificação, e a área do lote; XIII. ÁREA DE COBERTURA ARBÓREA EQUIVALENTE (AARB): corresponde ao cálculo da área ocupada pela projeção das copas das árvores e tem por referência o porte das espécies, classificadas em pequeno, médio e grande porte, conforme indicado no Quadro 2. XIV. ÍNDICE DE ARBORIZAÇÃO (IArb): corresponde à razão entre a Área de Cobertura Arbórea Equivalente (AArb) e a área total do terreno e pode se sobrepor à área permeável ou ao espaço de fruição pública. Art. 73. A piscina não é computada como área na Taxa de Ocupação (TO), mas sim como área construída e impermeável. Art. 74. Os parâmetros para o disciplinamento dos recuos seguem as seguintes regras: I. Para todas as tipologias, serão obrigatórias aberturas, como portas e/ou janelas, para o recuo frontal e para os logradouros públicos; II. Para as tipologias horizontais, ou seja, até o terceiro pavimento, o recuo frontal, laterais e de fundos serão dispensados; III. O recuo mínimo para quaisquer faces da edificação com aberturas, portas e/ou janelas, será de 1,5 metros; IV. Para as tipologias verticais será exigido, a partir do quarto pavimento, o recuo frontal e de fundos com mínimo de 4 metros e recuos laterais com mínimo de 3 metros; Parágrafo único. O projeto básico para aprovação na prefeitura passará a exigir a indicação das faces da edificação com aberturas, em plantas e elevações, para verificação do cumprimento do disposto nesta lei. Art. 75. Na Macrozona Urbana, para usos NRH – Não-residenciais Horizontais e MH – Mistos Horizontais serão permitidos tamanhos máximos de lotes conforme: I. Nas ZR- Zona Residencial e ZM- Zona Mista, em vias Locais o lote máximo será de 1.000m2; em vias coletoras será de 3.000 m2; em vias arteriais será de 6.000 m2 e em rodovias não há limite máximo; II. II – Na ZC – Zona de Centralidade, em vias locais o lote máximo será de 3.500 m2; em vias coletoras será de 7.000 m2; em vias arteriais será de 10.500 m2 e em rodovias não há limite máximo. Art. 76. A arborização urbana seguirá os princípios e objetivos dispostos nesta lei, no Quadro 2 e demais normas ambientais de referência, em especial o Guia de Arborização Urbana de Campo Limpo Paulista, a ser estabelecido em decreto regulamentador. Art. 77. As tipologias Residenciais organizam-se em: I. HU: Habitação Unifamiliar, edificação horizontal destinada a apenas 1 (uma) unidade habitacional por lote em loteamentos comuns; II. ECOBAIRRO: Habitação Unifamiliar Ecológica, edificação horizontal destinada a apenas 1 (uma) unidade habitacional por lote em loteamentos com infraestrutura verde; III. HMH: Habitação Multifamiliar Horizontal, com mais de 1 (uma) unidade habitacional por lote, isoladas, geminadas de um lado ou de ambos ou sobrepostas, com gabarito máximo de 10 metros ou 3 (três) pavimentos; IV. HMV: Habitação Multifamiliar Vertical, conjunto com mais de 1 (uma) unidade residencial sobreposta, com gabarito de mais de 3 (três) pavimentos ou 10 metros. V. ECOV: Ecovila, com mais de 1 (uma) unidade habitacional por lote, isoladas, geminadas de um lado ou de ambos ou sobrepostas, com gabarito máximo de 8 metros ou 2 (dois) pavimentos; Parágrafo único. O IPV - Índice de Permeabilidade Visual da testada deverá ser de 50% para usos residenciais. Art. 78. As tipologias Não Residenciais organizam-se em: I. NRH: Não Residencial Horizontal, edificação horizontal, com gabarito máximo de 10 metros ou 3 (três) pavimentos; II. NRV: Não Residencial Vertical, edificação vertical com gabarito de mais de 3 (três) pavimentos ou 10 metros, até 12 pavimentos ou 40 metros; III. UR: Unidade Rural, edificação com gabarito máximo de 15 metros ou 3 (três) pavimentos, destinada a usos não-residenciais rurais. Parágrafo único. O IPV - Índice de Permeabilidade Visual da testada deverá ser de 80% para usos não residenciais. Art. 79. As tipologias Mistas organizam-se em: I. MH: Misto Horizontal, edificação horizontal, com gabarito máximo de 10 metros ou 3 (três) pavimentos, destinada a usos residenciais e não-residenciais no mesmo lote; II. MV: Misto Vertical, edificação vertical com gabarito de mais de 3 (três) pavimentos ou 10 metros, destinada a usos residenciais e não-residenciais no mesmo lote; III. URM: Unidade Rural Mista, edificação com gabarito máximo de 15 metros ou 3 (três) pavimentos, destinada a usos não-residenciais rurais e com 2 (dois) pavimentos e 8 metros para usos residenciais ou não-residenciais não rurais no mesmo lote; IV. AGROVILA: Misto Multifamiliar Rural, edificação multifamiliar horizontal, com gabarito máximo de 8 metros ou 2 (dois) pavimentos, destinada a usos residenciais e não-residenciais rurais no mesmo lote; V. ECOVILA: Misto Multifamiliar Ecológico, edificação multifamiliar horizontal, com gabarito máximo de 8 metros ou 2 (dois) pavimentos, destinada a usos residenciais e não-residenciais, especialmente ecológicos e rurais no mesmo lote, com infraestrutura verde VI. ECOBAIRRO: Misto Unifamiliar Ecológica, edificação horizontal destinada a apenas 1 (uma) unidade habitacional por lote em loteamentos com infraestrutura verde; § 1º. AGROVILA é uma forma de ocupação territorial caracterizada como sendo assentamento humano multifamiliar horizontal que visa a produção rural sustentável e permite a habitação social em meio rural. Deve ser pautada pela organização e participação dos cidadãos de forma comunitária, por meio de cooperativas ou outras formas de associação coletiva. Deve constituir um núcleo de centralidade que reúna os usos residenciais e não-residenciais institucionais, de comércio, serviços, áreas verdes e lazer. § 2º. ECOBAIRRO é um loteamento unifamiliar de caráter ecológico e sustentável com infraestrutura verde, caracterizado como sendo assentamento humano, que busca a criação de modelos de vida sustentável, dentro das características de sua própria bio- região e engloba tipicamente quatro dimensões: a social, a ecológica, a cultural e a espiritual. § 3º. ECOVILA é um loteamento multifamiliar de caráter ecológico e sustentável com infraestrutura verde, caracterizado como sendo assentamento humano, que busca a criação de modelos de vida sustentável, dentro das características de sua própria bio- região e engloba tipicamente quatro dimensões: a social, a ecológica, a cultural e a espiritual, combinadas numa abordagem que estimula o desenvolvimento comunitário e pessoal. § 4º. O IPV - Índice de Permeabilidade Visual da testada deverá ser de 80% para usos Mistos. Art. 80. Os parâmetros de ocupação e a estrutura fundiária estabelecida pelos diferentes tamanhos de lotes permitidos seguirá os parâmetros estabelecidos neste capítulo e no Quadro 3, que define os parâmetros por zona e tipologias de ocupação. SEÇÃO IV – DOS IMPACTOS URBANO-AMBIENTAIS Art. 81. São definições da matriz urbanística IMPACTOS URBANO-AMBIENTAIS: I. A combinação de usos permitidos orienta-se pelo impacto urbano-ambiental produzido pelas atividades, conforme estabelece o Quadro 4; II. O impacto urbano-ambiental combina os fatores de poluição sonora, de acordo com o estabelecido pela NBR 10151/00, e de impacto sobre o tráfego; III. O Impacto urbano-ambiental indica a interferência e interação entre os diversos usos urbanos e se organiza em 5 (cinco) Níveis de Impacto (NI): a) NI 1 - Sem Impacto Significativo: atividades totalmente compatíveis com o uso residencial, permitindo emissão sonora entre 40 dB e 50dB e usos não-residenciais que não gerem embarque e desembarque, carga e descarga e demanda por mais que três vagas de estacionamento; b) NI 2 - Baixo Impacto: atividades compatíveis com o uso residencial, permitindo emissão sonora entre 55dB diurno e 50dB noturno, Micropolos e PGT1; c) NI 3 - Médio Impacto: atividades cujo nível de impacto permite sua instalação nas proximidades do uso residencial, permitindo emissão sonora entre 60dB diurno e 55dB noturno, Micropolos, PGT1 e PGT2; d) NI 4 - Alto Impacto: atividades cujo nível de impacto restringe sua instalação em qualquer localização, permitindo emissão sonora entre 65dB diurno e 60dB noturno, Micropolos, PGT1, PGT2 e PGT3; e) NI 5 - Altíssimo Impacto: atividades consideradas nocivas ao convívio residencial, permitindo emissão sonora entre 70dB diurno e 60dB noturno, Micropolos, PGT1, PGT2 e PGT3. Art. 82. Os PGT – Polos Geradores de Tráfego são atividades com influência local, municipal ou regional que, em função do tipo e porte, atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, podendo agravar as condições de segurança de veículos e pedestres. Geram demanda de vagas na via pública, e perturbações sobre o sistema viário causadas pelas operações de carga e descarga e/ou embarque e desembarque e/ou necessidades de estacionamento para automóveis ou veículos de transporte coletivo ou de cargas. Art. 83. Para os fins desta Lei são considerados Polos Geradores de Tráfego as atividades ue gerem ao menos um destes impactos: I. carga e descarga; II. embarque e desembarque; III. demanda por estacionamento; IV. tráfego de pedestres. Art. 84. Os PGT – Polos Geradores de Tráfego ficam definidos nas seguintes categorias: I. Micropolos – Polos Geradores de Tráfego Local: capacidade de atrair viagens de todo o bairro gerando sobrecarga no viário do entorno; II. PGT 1 – Polos Geradores de Tráfego Regional: capacidade de atrair viagens de um conjunto de bairros gerando sobrecarga no viário do entorno; III. PGT 2 – Polos Geradores de Tráfego Municipal: capacidade de atrair viagens de todo o município, gerando sobrecarga no sistema de acesso e no sistema estrutural de trânsito e transporte; IV. PGT 3 – Polos Geradores de Tráfego Intermunicipal: capacidade de atrair viagens de toda a região metropolitana ou macrometrópole, gerando necessidade de avaliação do impacto de sua implantação no meio urbano. § 1º. Os parâmetros para categorização dos Polos Geradores de Tráfego, o enquadramento dos usos e portes, assim como as exigências da análise técnica serão definidos pela legislação municipal específica. § 2º. A análise dos Polos Geradores de Tráfego será feita pelo órgão municipal competente. Art. 85. Para tipologias residenciais unifamiliares ou multifamiliares será exigido o mínimo de uma vaga de garagem por unidade habitacional e mais 5% do total de vagas destinadas a visitantes externos ou três vagas, o que for maior. § 1º. Como incentivo, para HIS – Habitação e Interesse Social, será exigida uma vaga de garagem para cada 2 unidades habitacionais com, no mínimo, 15% para uso comum. § 2º. No raio de 300 metros das estações da CPTM e do Terminal Rodoviário não serão exigidas vagas de garagem para usos residenciais. Art. 86. Os usos de alta periculosidade serão permitidos apenas nas Rodovias e nas vias arteriais da ZC e ZM e em todas as vias das ZDE, sendo sua instalação proibida no raio de 200m (duzentos metros) de instituições de ensino e de saúde. Parágrafo único. Considera-se uso de alta periculosidade aquele com manejo de inflamáveis ou com risco de explosão, tais como postos de gasolina, armazenamento de gás, fábricas de fogos de artifício e similares. Art. 87. Os impactos gerados por poluição atmosférica, poluição hídrica e geração de resíduos, assim como demais impactos ambientais não disciplinados nesta lei, deverão adequar-se aos parâmetros exigidos pela legislação ambiental federal, estadual e municipal em vigor. Art. 88. Os usos que emitem vibração são permitidos apenas nas Rodovias e na ZDE e sujeitam- se à legislação ambiental em vigor. Art. 89. Uso noturno é aquele cujo funcionamento ocorre entre as 22h (vinte e duas horas) e 07h (sete horas) e sua aprovação ou ocorrência é proibida na ZR – Zona Residencial e nas vias locais da ZECO – Zona Ecourbana e ZM – Zona Mista. CAPITULO II – DO CONTROLE DE USOS NAS ZONAS Art. 90. A distribuição de usos no zoneamento ordinário se organizará a partir da combinação de usos desejada para cada zona e da convivência dos impactos urbano-ambientais das atividades não residenciais sobre as residenciais. Art. 91. Na Zona de Produção Rural (ZPR) são permitidos: I. o uso residencial, misto e não residencial, especialmente os rurais; II. o comércio, serviços e institucionais locais de baixo impacto, desde que enquadrados como NI 1- Sem Impacto Significativo, e que obedeça aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 45dB (quarenta e cinco decibéis) e Noturno 40dB (quarenta decibéis). Art. 92. Na Zona Ecourbana (ZEC) são permitidos: I. Nas vias locais internas à ZEC o uso residencial, o não residencial e misto de prestação de serviços profissionais autônomos, associativos ou aqueles enquadrados como MEI – Microempreendedor individual e pousadas, desde que enquadrados como NI 1- Sem Impacto Significativo, e que obedeça aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 45dB (quarenta e cinco decibéis) e Noturno 40dB (quarenta decibéis). II. Nas vias coletoras, arteriais e rodovias que perpassam a ZEC, o uso residencial e os usos não residencial e misto de prestação de serviços profissionais autônomos, associativos ou aqueles enquadrados como MEI – Microempreendedor individual e pousadas e aqueles voltados ao comércio local e ao turismo, desde que enquadrados como NI 1 Sem Impacto Significativo e que obedeçam aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 50dB (cinquenta decibéis) e Noturno 45dB (quarenta e cinco decibéis). Art. 93. Na Zona Residencial (ZR) são permitidos: I. Nas vias locais internas à ZR, somente o uso residencial, o não residencial e misto relacionados à prestação de serviços profissionais autônomos, associativos ou aqueles enquadrados como MEI – Microempreendedor Individual, desde que enquadrados como NI 1 – Sem Impacto e que obedeçam aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 45dB (quarenta e cinco decibéis) e Noturno 40dB (quarenta decibéis). II. Nas vias coletoras, arteriais e rodovias que perpassam a ZR, serão permitidos usos residencial, não residencial e misto, desde que enquadrado como NI 1 – Sem Impacto significativo e que obedeça aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 50dB (cinquenta decibéis) e Noturno 45dB (quarenta e cinco decibéis). Art. 94. Na Zona Mista (ZM) são permitidos: I. Nas vias locais da ZM serão permitidos os usos residencial, não residencial e misto, desde que enquadrados como NI 1 – Sem Impacto Significativo, e que obedeçam aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 50 dB (cinquenta decibéis) e Noturno 45 dB (quarenta e cinco decibéis); II. Nas vias coletoras que perpassam a ZM, serão permitidos os usos residencial, não residencial e misto, desde que enquadrados como NI 1 – Sem Impacto Significativo e NI 2 – Baixo Impacto, sendo permitidos usos noturnos, e que obedeçam aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) e Noturno 50 dB (cinquenta decibéis); III. Nas vias arteriais e rodovias que perpassam a ZM, serão permitidos usos residencial, não residencial e misto enquadrado como NI 1 – Sem Impacto Significativo, NI 2 – Baixo Impacto e NI 3 – Médio Impacto, inclusive os noturnos, que obedeçam os níveis máximos de emissão sonora Diurno 60 dB (sessenta decibéis) e Noturno 55 dB (cinquenta e cinco decibéis). Art. 95. Na Zona de Centralidade (ZC) são permitidos: I. Nas vias locais e coletoras da ZC serão permitidos os usos residencial, não residencial e misto, enquadrados como NI 1 – Sem Impacto Significativo, NI 2 – Baixo Impacto e NI 3 – Médio Impacto, inclusive os noturnos, obedecendo aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 60dB (sessenta decibéis) e Noturno 55dB (cinquenta e cinco decibéis). II. Nas vias arteriais e rodovias da ZC, poderão se instalar usos residencial, não residencial e misto, desde que enquadrado como NI 1 – Sem Impacto Significativo, NI2 – Baixo Impacto, NI3 – Médio Impacto e NI 4 – Alto Impacto, sendo permitidos usos noturnos, obedecendo aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 65 dB (sessenta e cinco decibéis) e Noturno 60 dB (sessenta decibéis). Art. 96. Na Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) são permitidos: I. Todos os usos não residenciais em todas as vias, com todos os níveis de impacto, inclusive os enquadrados como NI 5 – Altíssimo Impacto, desde que obedecendo aos níveis máximos de emissão sonora Diurno 70dB (setenta decibéis) e Noturno 60dB (sessenta decibéis). CAPITULO III – DAS TIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO PERMITIDAS NAS ZONAS Art. 97. Fica permitido em todo o município o parcelamento e a ocupação de lotes com infraestrutura verde. Art. 98. Na Zona de Produção Rural (ZPR) são permitidas as seguintes tipologias de ocupação: I. PR-UR – UNIDADE RURAL; II. PR-URM – UNIDADE RURAL MISTA; III. PR-AGV – AGROVILA. Art. 99. Nas Zonas Ecourbanas (ZECO) são permitidas as tipologias de ocupação horizontal, com gabarito até 2 pavimentos ou 8 metros: I. E-ECOB – ECOBAIRRO - HABITAÇÃO UNIFAMILIAR ECOLÓGICA; II. E-ECOV – ECOVILA, HABITACIONAL MULTIFAMILIAR ECOLÓGICA; III. E-MH – MISTO HORIZONTAL; IV. E-NRH – NÃO-RESIDENCIAL HORIZONTAL; V. E-AGV – AGROVILA. Parágrafo Único. Esta Zona se subdivide em ZECO 1, ZECO 2 e ZECO 3 em razão das diferentes densidades e estruturas fundiárias permitidas, conforme parâmetros definidos no Quadro 3. Art. 100. Nas Zonas Residenciais (ZR) são permitidas as tipologias de ocupação horizontal, com gabarito até 3 pavimentos ou 10 metros: I. R- UH – HABITAÇÃO UNIFAMILIAR; II. R- HMH – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR HORIZONTAL; III. R- MH – MISTO HORIZONTAL; IV. R- NRH – NÃO-RESIDENCIAL HORIZONTAL. Art. 101. Nas Zonas Mistas (ZM) são permitidas tipologias de ocupação horizontal até 3 pavimentos ou 10 metros, e verticais com gabarito até 6 pavimentos ou 20 metros: I. M-UH – HABITAÇÃO UNIFAMILIAR; II. M-HMH – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR HORIZONTAL; III. M-MH – MISTO HORIZONTAL; IV. M-NRH – NÃO-RESIDENCIAL HORIZONTAL; V. M-HMH – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR VERTICAL; VI. M-MH – MISTO VERTICAL; VII. M-NRV – NÃO-RESIDENCIAL VERTICAL. Art. 102. Nas Zonas de Centralidades (ZC) são permitidas tipologias de ocupação horizontal até 3 pavimentos ou 10 metros, e verticais com gabarito até 12 pavimentos ou 40 metros: I. C-UH – HABITAÇÃO UNIFAMILIAR; II. C-HMH – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR HORIZONTAL; III. C-MH – MISTO HORIZONTAL; IV. C-NRH – NÃO-RESIDENCIAL HORIZONTAL; V. C-HMH – HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR VERTICAL; VI. C-MH – MISTO VERTICAL; VII. C-NRV – NÃO-RESIDENCIAL VERTICAL. Art. 103. Nas Zonas de Desenvolvimento Econômico (ZDE) são permitidas tipologias de ocupação horizontal até 3 pavimentos ou 18 metros, e verticais com gabarito até 12 pavimentos ou 40 metros: I. D - NÃO-RESIDENCIAL HORIZONTAL; II. D - NÃO-RESIDENCIAL VERTICAL. Art. 104. Quando incidir sobre propriedades de até 20 mil m2 de área mais de uma zona de uso ordinária, o proprietário poderá subdividir a gleba ou lote exatamente na mesma proporção ou poderá escolher uma das zonas incidentes para aplicação em todo o terreno. Parágrafo único. Em remanescente de até 20 mil m2 (vinte mil metros quadrados) de terrenos em glebas ou lotes maiores, o proprietário poderá requerer e aplicar os parâmetros da zona dominante que incide sobre a área. CAPITULO IV – DO PARCELAMENTO DO SOLO SEÇÃO I – DOS PARÂMETROS GERAIS DE PARCELAMENTO Art. 105. O Parcelamento do Solo Urbano poderá ser realizado por meio das seguintes modalidades: I – LOTEAMENTO, que consiste na subdivisão de Glebas em lotes para efeito de edificação com abertura de vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, ampliação ou modificação de vias existentes; II – DESMEMBRAMENTO, que consiste na subdivisão de glebas em lotes com o aproveitamento do sistema viário existente; III – REMEMBRAMENTO, que consiste no englobamento de glebas ou lotes para formação de novas glebas ou lotes; IV – DESDOBRO, que consiste na sudbivisão de lote resultante de loteamento ou de desmembramento aprovado anteriormente. Parágrafo único. Considera-se: I – GLEBA: a extensão de terreno não parcelada; II – LOTE: o terreno decorrente de parcelamento do solo na modalidade loteamento ou desmembramento. Art. 106. Não será permitido o Parcelamento do Solo, nos termos da Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, em especial: I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas, respeitada a legislação aplicável; II – em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados; III – em terrenos com declividade igual ou superior a 30 % (trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes; IV – em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; V – em áreas de preservação ecológica ou especialmente protegidas; VI – em áreas em que a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. Art. 107. A gleba objeto de qualquer modalidade de parcelamento deve possuir acesso por via pública oficial. Parágrafo único. Considera-se via pública oficial aquelas previstas nesta lei e nas normas específicas em vigor. Art. 108. O projeto de parcelamento deverá considerar as diretrizes viárias destinadas à abertura, prolongamento, modificação, ampliação ou reestruturação do sistema viário, bem como a hierarquia viária definida nesta lei e nas demais legislações urbanísticas municipais vigentes. Art. 109. No momento do parcelamento a prefeitura exigirá a implantação das vias públicas imprescindíveis para acesso ou ligação com o sistema viário existente ou planejado. Art. 110. Nos termos da Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, as glebas a serem loteadas, em todo o município, devem obedecer a um conjunto de regras que garantam, no mínimo, 35% de doações de áreas públicas. Parágrafo único. As áreas públicas doadas devem ser destinadas a: 20% ao sistema viário; 10% de preservação ambiental e/ou áreas verdes e de lazer e 5% de áreas para usos institucionais públicos. Art. 111. As vias que delimitam as quadras devem ser públicas e poderão ser vias segregadas, vias compartilhadas ou vias pedestriais. Parágrafo único. Para fins de aplicação desta lei, entende-se: I. via compartilhada – é aquela formada por um único plano contínuo de pavimento, sem separação ou desníveis entre o leito carroçável e as calçadas, onde podem circular pedestres, veículos e animais compartilhadamente; II. via segregada – é aquela formada por guias e sarjetas para separação entre o leito carroçável e as calçadas, sendo a largura mínima do leito carroçável de 6 (seis metros); III. via pedestrial – é aquela destinada exclusivamente à circulação de pedestres, podendo reservar horários para carga e descarga de usos não-residenciais; IV. calçadas – espaço da via segregada destinada exclusivamente ao pedestre e que deve ter declividade transversal de, no mínimo, 0,5% (meio por cento) e, no máxima, 3% (três por cento) e acessibilidade universal na transição entre guias e sarjetas nos pontos de travessia de pedestres; Art. 112. Para novos parcelamentos, as tipologias multifamiliares horizontais somente serão permitidas se estiverem dispostas no interior da quadra, envolvendo-a com lotes de habitação unifamiliar, mistos ou não-residenciais, deixando apenas sua testada para o logradouro público, evitando, desta forma, excesso de muros para a cidade. Parágrafo único. Esta exigência não se aplica a agrovilas e ecovilas. Art. 113. Na Macrozona Agroambiental, a quadra terá tamanho máximo de 250 metros lineares de extensão, as calçadas de vias segregadas terão tamanho mínimo de 2,0 m (dois metros) de largura e as vias compartilhadas terão, no mínimo, 9 m (nove metros) de largura. Art. 114. Na Macrozona Urbana, a quadra terá tamanho máximo de 160 metros lineares de extensão. § 1º. Em vias públicas segregadas, as calçadas terão larguras mínimas de 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) na ZR (Zona Residencial); de 2 m (dois metros) na ZM (Zona Mista) e de 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros) na ZC (Zona de Centralidade); § 2º. As vias públicas compartilhadas e pedestriais terão largura de, no mínimo, de 8 m (oito metros) na ZR (Zona Residencial); de 10 m (dez metros) na ZM (Zona Mista) e de 12 m (doze metros) na ZC (Zona de Centralidade); § 3º. A largura do leito carroçável das vias segregadas públicas deverá obedecer aos parâmetros definidos em lei específica para cada hierarquia de via. Art. 115. Na Macrozona Agroambiental, os terrenos com área até 40 mil m2 (quarenta mil metros quadrados), que sofrerem parcelamento estão dispensados da doação de áreas públicas e devem reservar, implantar e manter, no mínimo, 10% de área para compor o sistema de espaços livres para fins de lazer, como praças e parques, e/ou para fins de preservação ambiental, não necessariamente públicas e abertas ao público. Parágrafo único. Na ZECO, para o parcelamento em glebas com área acima de 40 mil m2, será exigida a doação de 5% de área para usos institucionais públicos, podendo ser doadas em outras localizações nas macrozonas Agroambiental e Urbana, mediante determinação da prefeitura. Art. 116. Na Macrozona Urbana, no momento do parcelamento, será exigida uma reserva a mais de 10% de áreas para preservação ambiental e/ou áreas verdes e de lazer, não necessariamente públicas e abertas ao público, a ser implantada e mantida pelos proprietários. Art. 117. Na Macrozona Urbana, os terrenos com área até 20 mil m2 (vinte mil metros quadrados), que sofrerem parcelamento estão dispensados da doação de áreas públicas e devem reservar, implantar e manter, no mínimo, 10% de área para compor o sistema de espaços livres para fins de lazer, como praças e parques, e/ou para fins de preservação ambiental, não necessariamente públicas e abertas ao público. Art. 118. Na Macrozona de Desenvolvimento Econômico, as glebas que não sofrerem parcelamento na modalidade loteamento, devem destinar, na aprovação do projeto, uma única vez, 10% de área para preservação ambiental ou reflorestamento, não necessariamente públicas e abertas ao público. Parágrafo único. As glebas com área acima de 200 mil m2 (duzentos mil metros quadrados) que não sofrerem parcelamento na modalidade loteamento, devem destinar, na aprovação de projeto, uma única vez, além do exigido no caput, mais 5% de doação de áreas públicas para usos dominiais públicos, podendo esta ser na gleba ou em outra localização, conforme demanda da prefeitura. Art. 119. A faixa não edificável ao longo das nascentes, águas correntes, canalizadas ou não, e das dormentes, será considerada Área de Preservação Permanente – A.P.P., nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. A recuperação e plantio de mata nativa em A.P.P. deverá obedecer às disposições e prazo do Termo de Compromisso firmado com o órgão licenciador. Art. 120. Ficam estabelecidas faixas não edificáveis de Área de Preservação Permanente – A.P.P. independentemente de qualquer processo de urbanização, além de prever que: I - Ao longo dos cursos d´agua, canalizados ou não, das águas dormentes e das áreas de brejo será obrigatória a reserva de faixa não edificável de 30 m (trinta metros) de cada lado das suas margens; II - Ao redor das nascentes a reserva de área não edificável, num raio de 50 m (cinqüenta metros), a partir do leito maior sazonal; III - Ao longo de faixa não edificável referida no inciso I deste artigo, conjugada ou não com área verde do loteamento, será obrigatória a existência de via compartilhada ou pedestrial de no mínimo 6 m (seis metros) de largura ou via segregada de no mínimo 9 m (nove metros) de largura, com calçadas de no mínimo 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) de largura margeando a faixa não edificável, e os lotes resultantes deste parcelamento deverão ter frente ou testada para esta via. Parágrafo único. Estas determinações não substituem e se complementam a partir das demais exigências da legislação específica em vigor. Art. 121. A localização e a conformação das áreas institucionais e dominiais serão definidas pela Prefeitura e deverá atender às seguintes disposições: I – As áreas institucionais devem ser lindeiras a uma via oficial de circulação de veículos, não se admitindo a confrontação com áreas que não sejam públicas, exceto confrontação com glebas de terras de domínio particular que ainda não tenham sido parceladas, podendo as áreas dominiais confrontar com áreas tanto públicas quanto particulares e/ou lotes; II - Estar situada em uma área com declividade de no máximo 30 % (trinta por cento); III - Permitir que seja inscrito um círculo com raio de 20,00 m (vinte metros) no caso de áreas institucionais e raio de 4,00 m (quatro metros) no caso de áreas dominiais; IV - Para parcelamentos de glebas com área abaixo de 40.000 m2, as áreas institucionais poderão estar localizadas em dois ou mais perímetros definidos pela Prefeitura, desde que tenham área igual ou superior a 1.000,00 m² (um mil metros quadrados); V - Para parcelamentos de glebas com área igual ou superior a 40.000 m2, as áreas institucionais poderão estar localizadas em dois ou mais perímetros definidos pela Prefeitura, desde que tenham área igual ou superior a 2.000,00 m² (dois mil metros quadrados). Art. 122. Na Macrozona Agroambiental, a reserva de áreas livres deve ser preferencialmente em áreas com recursos naturais expressivos para fins de preservação ambiental. Parágrafo único. Caso a gleba não possua estes atributos naturais estas áreas deverão ser preferencialmente destinadas ao reflorestamento, conforme determinação da prefeitura. SEÇÃO II – DOS PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE PARCELAMENTO DENTRO DAS TIPOLOGIAS MULTIFAMILIARES, MISTAS E NÃO-RESIDENCIAIS Art. 123. Nas HMH – Habitações Multifamiliares Horizontais e MH – Mistos Horizontais, será exigido o mínimo de 5% de área verde e de lazer interna, calculados sobre a área total do lote ou gleba, podendo até 30% (trinta por cento) dela ser coberta. § 1º. Esta área coberta não será computada como área construída do empreendimento; § 2º. As unidades habitacionais deverão ter lote interno mínimo de 120 m2 (cento e vinte metros quadrados) e máximo de 480 m2, com testada mínima de 6m; § 3º. Esta tipologia deve se orientar pelas densidades habitacionais mínimas e máximas previstas no Quadro 3. § 4º. O proprietário poderá ter em seu registro de matrícula a metragem quadrada do seu lote mínimo ou de sua edificação e a fração ideal do restante de áreas comunitárias do HMH, tal como ocorre para as HMV – Verticais. Art. 124. Nas HMH – Habitações Multifamiliares Horizontais e MH – Mistos Horizontais, serão permitidas vias internas particulares de circulação, que poderão ser vias segregadas, vias compartilhadas ou vias pedestriais e deverão dispor de: I - via segregada: largura mínima do leito carroçável de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros) e a largura mínima das calçadas de 1,50 (um metro e cinquenta centímetros); II - via compartilhada e pedestrial: largura mínima de 8 m (oito metros); III – As vias particulares de circulação: a) deverão ter declividade máxima no leito carroçável ou na via compartilhada ou pedestrial de 15% (quinze por cento); b) no trecho em curva, o raio mínimo será de 6m (seis metros); c) na via sem saída com balão de retorno (“cul de sac”), a extensão máxima será de 120m (cento e vinte metros) e o diâmetro mínimo do leito carroçável do retorno será igual a 13,50m (treze metros e cinquenta centímetros); d) a calçada na lateral da via interna que coincidir com a divisa do terreno será dispensada, desde que não sirva de acesso à habitação; e) o acesso de veículos, ou seja, o rebaixamento de guias, às unidades habitacionais deverá ter largura mínima de 4 m (quatro metros) em trechos retos e de 5,50 m (cinco metros e cinquenta centímetros) em trechos curvos. Art. 125. Nas HMV – Habitações Multifamiliares Verticais e MV – Mistos Verticiais, haverá espaços destinados ao lazer e às atividades sociais, com as seguintes características: a) os espaços descobertos terão área mínima equivalente a 10% (dez por cento) da área do lote ou gleba e deverão ser apartados dos locais de circulação e de estacionamento de veículos, das instalações de gás e dos depósitos de lixo; b) os espaços cobertos, destinados ao lazer, corresponderão ao mínimo de 2% (dois por cento) da área construída ou 50 m² (cinquenta metros quadrados), o que for maior; c) Esta tipologia deve se orientar pelas densidades habitacionais mínimas e máximas previstas no Quadro 3. Art. 126. Nas HMV – Habitações Multifamiliares Verticais e MV – Mistos Verticiais, serão permitidas vias internas particulares de circulação, que poderão ser vias segregadas, vias compartilhadas ou vias pedestriais e deverão dispor de: I - via segregada: largura mínima do leito carroçável de 6 m (seis metros) e a largura mínima das calçadas de 1,5 (um metro e cinquenta centímetros); II - via compartilhada e pedestrial: largura mínima de 8 m (oito metros); III – As vias particulares de circulação: a) deverão ter declividade máxima no leito carroçável ou na via compartilhada ou pedestrial de 15% (quinze por cento); b) no trecho em curva, o raio mínimo será de 6m (seis metros); c) na via sem saída com balão de retorno (“cul de sac”), a extensão máxima será de 120 m (cento e vinte metros) e o diâmetro mínimo do leito carroçável do retorno será igual a 15 m (quinze metros); d) a calçada na lateral da via interna que coincidir com a divisa do terreno será dispensada, desde que não sirva de acesso à habitação; e) a via de circulação de pedestres de acesso aos blocos das unidades habitacionais terá largura mínima de 3 m (tres metros). Art. 127. Nas tipologias NR – Não Residenciais, as vias internas particulares de circulação: a) as vias segregadas deverão ter largura mínima de 12 m (doze metros) e leito carroçável de 8 m (oito metros); b) as vias compartilhadas ou pedestriais deverão ter largura mínima de 10 metros (dez metros); c) a via sem saída com balão de retorno “cul de sac” terá extensão máxima de 150m (cento e cinquenta metros) e diâmetro do leito carroçável do balão de retorno mínimo de 18 m (dezoito metros). Art. 128. Nas tipologias NR – Não Residenciais, em lotes de área igual ou superior a 5.000 m² (cinco mil metros quadrados), as vias internas particulares de circulação: a) ter largura mínima de 12 m (doze metros) e leito carroçável de 9 m (nove metros); b) a via sem saída com balão de retorno “cul de sac” terá extensão máxima de 120m (cento e vinte metros) e diâmetro do leito carroçável do balão de retorno mínimo de 20 m (vinte metros); Art. 129. O cálculo da extensão das vias desta seção será medido entre o centro do balão de retorno e o eixo da via transversal mais próxima. TÍTULO V - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA CAPÍTULO I - DA ADOÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A POLÍTICA URBANA Art. 130. Para a promoção, planejamento, controle e gestão do desenvolvimento urbano, serão adotados, dentre outros, os seguintes instrumentos de política urbana: I. Instrumentos de planejamento: a) Plano Plurianual; b) Lei de Diretrizes Orçamentárias; c) Lei de Orçamento Anual; d) Lei de Uso e Ocupação do Solo da Macrozona de Densidade Média-Alta, Macrozona de Densidade Média-Baixa e Macrozona de Densidade Baixa e ; e) Lei de Parcelamento do Solo da Macrozona Urbana e f) Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo da Macrozona de Proteção Ambiental; g) Planos de Desenvolvimento Econômico e Social; h) Planos, Programas e Projetos Setoriais; i) Programas e Projetos Especiais de Urbanização; j) Instituição de Unidades de Conservação; k) Zoneamento Ambiental. II. Instrumentos jurídicos e urbanísticos: a) Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; b) Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo; c) Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; d) Zonas Especiais de Interesse Social; e) Outorga Onerosa do Direito de Construir; f) Transferência do Direito de Construir; g) Operações Urbanas Consorciadas; h) Consórcio Imobiliário; i) Direito de Preempção; j) Direito de Superficie; k) Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança; l) Licenciamento Ambiental; m) Tombamento; n) Desapropriação; o) Compensação Ambiental. III. Instrumentos de regularização fundiária: a) Concessão de Direito Real de Uso; b) Concessão de Uso Especial para fins de Moradia; c) Assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos, especialmente na propositura de ações de usucapião. IV. Instrumentos tributários e financeiros: a) Tributos municipais diversos; b) Taxas e tarifas públicas específicas; c) Contribuição de Melhoria; d) Incentivos e beneficios fiscais; V. Instrumentos jurídico-administrativos: a) Servidão Administrativa e limitações administrativas; b) Concessão, Permissão ou Autorização de uso de bens públicos municipais; c) Contratos de concessão dos serviços públicos urbanos; d) Contratos de gestão com concessionária pública municipal de serviços urbanos; e) Convênios e acordos técnicos, operacionais e de cooperação institucional; f) Termo administrativo de ajustamento de conduta; g) Dação de Imóveis em pagamento da dívida. VI. Instrumentos de democratização da gestão urbana: a) Conselhos municipais; b) Fundos municipais; c) Gestão orçamentária participativa; d) Audiências e consultas públicas; e) Conferências municipais; f) Iniciativa popular de projetos de lei; g) Referendo popular e plebiscito. CAPÍTULO II - DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS Art.131. São passíveis de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC), nos termos do artigo 182 da Constituição Federal e dos artigos 5 e 6 do Estatuto da Cidade, os imóveis não parcelados, não edificados, subutilizados ou não utilizados localizados na Macrozona Urbana e Macrozona de Desenvolvimento Econômico. §1º. Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata este artigo propor ao Executivo o estabelecimento do Consórcio Imobiliário, conforme disposições do artigo 46 do Estatuto da Cidade. §2°. Considera-se solo urbano não edificado os terrenos e glebas com área igual ou superior a 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), situados nas Macrozona Urbana, quando o coeficiente de aproveitamento não atingir o mínimo definido para a zona onde se situam. §3°. Considera-se solo urbano subutilizado os terrenos e glebas com área igual ou superior a 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), situados nas Macrozona de Desenvolvimento Econômico, quando o coeficiente de aproveitamento (CA) não atingir o mínimo definido para a zona onde se situam. §4°. O PEUC deverá ser aplicado em todas as ZEPHA – Zonas Especiais de Provisão Habitacional que esteja não edificada, não parcelada, não utilizada ou subutilizada, independente de atingir o CA mínimo previsto na zona ordinária onde se situa. §5º. Ficam excluídos da obrigação estabelecida no "caput" os imóveis: I. utilizados para instalação de atividades econômicas que não necessitem de edificações para exercer suas finalidades; II. exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo COMPAC - Conselho Municipal do Patrimônio Ambiental e Cultural; III. de interesse do patrimônio cultural ou ambiental; IV. ocupados por clubes ou associações de classe com equipamentos e atividades comprovadas de esportes, lazer e/ou culturais; V. de propriedade de cooperativas habitacionais ou agrícolas; VI. instituições de ensino e órgãos públicos federais, estaduais ou municipais com atividades de interesse público que realizem a manutenção e preservação ambiental da área. §6°. Considera-se solo urbano não utilizado todo tipo de edificação que esteja comprovadamente desocupada há mais de dois anos, ressalvados os casos dos imóveis integrantes de massa falida. Art. 132. Os imóveis nas condições a que se refere o artigo anterior serão identificados e seus proprietários notificados diante da necessária utilização da gleba para uso de interesse social devidamente aprovado por lei específica. §1º. A notificação far-se-á: I. por funcionário do órgão competente do Executivo, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administrativa; II. por edital quando frustrada, por três vezes, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I. § 2°. Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de um ano a partir do recebimento da notificação, protocolar pedido de aprovação e execução de parcelamento ou edificação. § 3°. Somente poderão apresentar pedidos de aprovação de projeto até 02 (duas) vezes para o mesmo lote. § 4°. Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo de dois anos a contar da aprovação do projeto. § 5°. As edificações enquadradas nos parágrafos 2° a 4° do artigo 100 deverão estar ocupadas no prazo máximo de um ano a partir do recebimento da notificação. §6°. Em empreendimentos de grande porte, em caráter excepcional, poderá ser prevista a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo. §7°. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas neste artigo, sem interrupção de quaisquer prazos. §8°. Os lotes que atendam as condições estabelecidas nos § 2° e § 3° do artigo anterior não poderão sofrer parcelamento sem que estejam condicionados à aprovação de projeto de uso e ocupação. CAPÍTULO III - DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO EM TÍTULOS Art. 133. Em caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos nos dois artigos anteriores, Capítulo l, Título V, o Município aplicará alíquotas progressivas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU até que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso. §1º. O Código Tributário Municipal estabelecerá a gradação anual das alíquotas progressivas e a aplicação deste instituto. §2°. Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no prazo estipulado pelo Código Tributário, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra à referida obrigação, garantida a aplicação da medida prevista neste Título, Capítulo II e seus artigos. §3°. É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação progressiva de que trata este artigo. Art.134. Decorrido o prazo estipulado pelo Código Tributário de cobrança do JPTU Progressivo no Tempo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e utilização, o Município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, desde que a sua destinação seja para fins de interesse social. §1º. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de seis por cento ao ano. §2°. O valor real da indenização: I. refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo Poder Público na área onde o mesmo se localiza após a notificação prevista no artigo 1O1; II. não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. §3°. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. §4°. O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. §5°. O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nestes casos, o devido procedimento licitatório. §6°. Ficam mantidas para o adquirente do obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no artigo 100 e seus parágrafos, desta Lei. CAPÍTULO IV - DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR Art.135. O Poder Executivo Municipal poderá exercer a faculdade de outorgar onerosamente o exercício do Direito de Construir, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo beneficiário, conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 do Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos definidos nesta Lei. Art. 136. As áreas passíveis de Outorga Onerosa são todas aquelas onde o Direito de Construir poderá ser exercido acima Coeficiente de Aproveitamento Básico até o limite estabelecido pelo uso do Coeficiente de Aproveitamento Máximo, mediante contrapartida financeira. Art. 137. A contrapartida financeira, que corresponde à outorga onerosa de potencial construtivo adicional, será calculada segundo a seguinte equação: BF = At x Vm x Cp x lp Onde: BF - Benefício Financeiro At - Área do Terreno Vm - Valor Venal do metro quadrado do terreno Cp - Diferença entre o Coeficiente de Aproveitamento Pretendido e o Coeficiente de Aproveitamento Básico permitido lp - Índice de Planejamento de 0,0 a 1,0. Art. 138. Para usos especiais ou incentivados a aplicação da outorga onerosa seguirá a seguinte regra: I. O Ip – Indice de Planejamento, será de 0,6 nas áreas localizadas a 400 metros lineares das vias arteriais e rodovias e no raio de 800 metros das estações da CPTM; II. O Ip – Indice de Planejamento, será de 0,5 para HMP nas áreas localizadas a 400 metros lineares das vias arteriais e no raio de 800 metros das estações da CPTM; III. O Ip – Indice de Planejamento, será de 0,8 para usos mistos verticais na Macrozona Urbana; IV. O Ip – Indice de Planejamento, será de 0 para HIS, Equipamentos de saúde, cultura, ensino superior e técnico, podendo usar o CA máximo sem pagamento da outorga onerosa; V. O Espaço de Fruição Pública acima do mínimo exigido no Quadro 3 terá desconto proporcional à sua porcentagem na cobrança da outorga onerosa; VI. Aos demais casos a decisão sobre o índice de planejamento a ser aplicado caberá a Secretaria de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos, aplicando índices diretamente proporcionais considerando: I. maior interesse público no empreendimento como gerador de emprego e renda; II. menores impactos ao trânsito e incômodos decorrentes do empreendimento; III. a valorização imobiliária da área em que se encontra o empreendimento, sobretudo se nela houver recente investimento público em melhorias urbanas e infraestrutura; IV. a valorização imobiliária que o empreendimento gerará. Art. 139. Poderá ser permitida a utilização do coeficiente acima do básico até o limite máximo com contrapartida de destinação de partes da área do terreno para usos de interesse público como melhorias e ampliação de sistema viário ou transferência de propriedade para o Poder Municipal de partes do terreno a ser utilizado ou outro terreno em local diverso para implantação de equipamentos públicos em áreas deficitárias. Art.140. Os recursos auferidos com a adoção da Outorga Onerosa do Direito de Construir serão destinados à construção, aquisição, reforma e locação de Habitação de Interesse Social e equipamentos públicos municipais para atendimento de saúde, educação e lazer. CAPÍTULO V – DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR Art. 141. O proprietário de imóvel localizado na Macrozona Urbana, poderá exercer em outro local, passível de receber o potencial construtivo, ou alienar, total ou parcialmente, o potencial construtivo não utilizado no próprio lote, mediante prévia autorização do Poder Executivo Municipal, quando tratar-se de imóvel: I. de interesse do patrimônio; II. de imóvel lindeiro ou defrontante a Parque Público, exceto face Sul; III. exercendo função ambiental essencial, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal competente; IV. servindo a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e Habitação de Interesse Social. § 1°. Os imóveis listados nos incisos I e III poderão transferir até 100% (cem por cento) do coeficiente de aproveitamento básico não utilizado. § 2°. Os imóveis listados nos incisos II e IV poderão transferir até 50% (cinquenta por cento) do coeficiente de aproveitamento básico não utilizado. §3°. A transferência de potencial construtivo prevista no inciso IV deste artigo só será concedida ao proprietário que doar ao Município seu imóvel, para os fins previstos neste artigo. §4°. Fica vedada a transferência de potencial construtivo para imóveis situados nas áreas dentro do perímetro das Operações Urbanas Consorciadas. Art. 142. O potencial construtivo, a ser transferido, será calculado segundo a equação a seguir: Arec = VVced -e CAced x CArec -e VTrec x Atced Onde: Arec = Área construída a ser recebida VV ced = Valor Venal do metro quadrado do terreno cedente CAced = Coeficiente de Aproveitamento Básico do terreno cedente CArec = Coeficiente de Aproveitamento máximo do terreno receptor VTrec = Valor Venal do metro quadrado do terreno receptor Atced = Área total do terreno cedente Parágrafo único. O Coeficiente de Aproveitamento Básico será o do uso residencial multifamiliar da zona. Art. 143. O impacto da concessão de outorga de potencial construtivo adicional e de transferência do direito de construir deverá ser monitorado permanentemente pelo Executivo, que tomará públicos, anualmente, os relatórios do monitoramento. CAPÍTULO VI - DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS Art.144. Operações Urbanas Consorciadas são o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Município com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais, melhorias de infra-estrutura e viário, ampliação dos espaços públicos e valorização ambiental num determinado perímetro contínuo ou descontinuado . Art. 145. As Operações Urbanas Consorciadas têm, como finalidades: I. implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento urbano; II. otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanísticas de porte e reciclagem de áreas consideradas subtilizadas; III. implantação de programas habitacionais de interesse social para população de baixa renda; IV. ampliação e melhoria da rede estrutural de transporte público coletivo; V. implantação de espaços públicos; VI. Valorização e criação de patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico; VII. melhoria e ampliação da infraestruturas e da rede viária estrutural. Art. 146. Cada Operação Urbana Consorciada será criada por lei específica que, de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade, conterá, no mínimo: I. delimitação do perímetro da área de abrangência; II. finalidade da operação; III. programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; IV. Relatório de Impacto Ambiental e Incômodo de Vizinhança - REIP A V; V. garantia de preservação dos imóveise espaços urbanos de especial valor cultural e ambiental, protegidos por tombamento ou lei; VI. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função dos benefícios recebidos; VII. forma de controle e monitoramento da operação; VIII. conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos. Parágrafo único. Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do inciso VIII deste artigo serão aplicados prioritariamente no programa de intervenções, definido na lei de criação da Operação Urbana Consorciada e para obtenção de áreas e edificações de equipamentos públicos especialmente de educação, saúde e de lazer desportivo em áreas carentes e de moradias de interesse social (HIS). Art. 147. A Outorga Onerosa do Direito de Construir das áreas compreendidas no interior dos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas, se regerá, exclusivamente, pelas disposições de suas leis específicas, respeitados os coeficientes de aproveitamento máximo para operações urbanas estabelecidas por lei específica. §1º. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das Operações Urbanas Consorciadas, não são passíveis de receber o potencial construtivo transferido de outros imóveis e a lei específica poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEP AC, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras, desapropriações necessárias à própria Operação, para aquisição de terreno para a construção de Habitação de Interesse Social - HIS ou equipamentos públicos, visando o barateamento do custo das unidades e/ou equipamentos e como garantia para obtenção de financiamentos para a sua implementação. §2°. Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC serão livremente negociados e convertidos em direito de construir unicamente na área objeto da Operação. §3°. A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC poderá ser realizada no ato da aprovação de projeto de edificação específico para o terreno. §4°. Os Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs, poderão ser vinculados ao terreno por intermédio de declaração da Municipalidade, os quais deverão ser objeto de Certidão. §5°. A lei a que se refere o "caput" deverá estabelecer: I. a quantidade de Certificados de Potencial Construtivo Adicional de Construção - CEP ACs a ser emitida, obrigatoriamente proporcional ao estoque de potencial construtivo adicional previsto para a Operação; II. valor mínimo do CEPAC; III. as formas de cálculo das contrapartidas; IV. as formas de conversão e equivalência dos CEPACs em metros quadrados de potencial construtivo adicional; V. limite do valor de subsidio previsto no "caput" deste artigo para aquisição de terreno para construção de Habitação de Interesse Social. CAPÍTULO VII - DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO Art.148. O Poder Público municipal poderá aplicar o instrumento do Consórcio Imobiliário além das situações previstas no artigo 46 do Estatuto da Cidade, para viabilizar empreendimentos de HIS - Habitação de Interesse Social e nas Zonas de Operação Urbana. § 1º. Considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal o seu imóvel e, após a realização das obras, recebe como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. §2°. A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber por transferência nos termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma de contratação. §3°. O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos deste artigo receberá, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas. Art. 149. O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no §2 do Artigo 8 do Estatuto da Cidade. Art. 150. O Consórcio Imobiliário aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação legal de parcelar, edificar ou utilizar nos termos desta lei, quanto àqueles por ela não abrangidos, mas necessários à realização de intervenções urbanísticas previstas nesta lei. Art. 151. Os consórcios imobiliários deverão ser formalizados por termo de responsabilidade e participação pactuados entre o proprietário urbano e a Municipalidade, visando à garantia da execução das obras do empreendimento, bem como das obras de uso público. CAPÍTULO VIII - DO DIREITO DE PREEMPÇÃO Art. 152. O Poder Público municipal poderá exercer o Direito de Preempção para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares, conforme disposto nos artigos 25, 26 e 27 do Estatuto da Cidade. Parágrafo único. O Direito de Preempção será exercido sempre que o Poder Público necessitar de áreas para: I. regularização fundiária; II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; III. constituição de reserva fundiária; IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários; VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural, ambiental ou paisagístico. Art. 153. Lei municipal delimitará as áreas em que incidirá o Direito de Preempção em qualquer das Zonas definidas no Zoneamento por este Plano Diretor. Parágrafo único. Os imóveis colocados à venda nas áreas definidas no "caput" deverão ser necessariamente oferecidos ao Município, que terá preferência para aquisição pelo prazo de cinco anos. Art. 154. O Executivo deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em área delimitada para o exercício do Direito de Preempção, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da vigência da lei que a delimitou. Art. 155. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel para que o Município, no prazo máximo de trinta dias manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo. § 1º. À notificação mencionada no "caput" será anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão: preço, condições de pagamento e prazo de validade. §2°. A declaração de intenção de alienar onerosamente o imóvel, deve ser apresentada com os seguintes documentos: I. Proposta de compra apresentada pelo terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, condições de pagamento e prazo de validade; II. Endereço do proprietário, para recebimento de notificação e de outras comunicações; III. Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária competente; IV. Declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou executória. Art. 156. Recebida a notificação a que se refere o artigo anterior, a Administração poderá manifestar, por escrito, dentro do prazo legal, o interesse em exercer a preferência para aquisição de imóvel. §1°. A Prefeitura fará publicar, nos termos do artigo 122 a 124, num jornal local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida e a intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. §2°. O decurso de prazo de trinta dias após a data de recebimento da notificação do proprietário sem a manifestação expressa do Poder Executivo Municipal de que pretende exercer o direito de preferência faculta o proprietário a alienar onerosamente o seu imóvel ao proponente interessado nas condições da proposta apresentada sem prejuízo do direito do Poder Executivo Municipal exercer a preferência em face de outras propostas de aquisições onerosas futuras dentro do prazo legal de vigência do Direito de Preferência. Art. 157. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a entregar ao órgão competente do Poder Executivo Municipal cópia do instrumento particular ou público de alienação do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura. §1º. O Executivo promoverá as medidas judiciais cabíveis para a declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em condições diversas da proposta apresentada. §2°. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo proprietário, o Executivo poderá adquirir o imóvel pelo valor base de cálculo do imposto predial e territorial urbano ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este for inferior àquele. Art. 158. Lei municipal com base no disposto no Estatuto da Cidade definirá todas as demais condições para aplicação do instrumento. CAPÍTULO IX - DO DIREITO DE SUPERFÍCIE Art. 159. O Direito de Superfície poderá ser exercido em todo o território municipal, nos termos da legislação federal pertinente. Parágrafo único. Fica o Executivo municipal autorizado a: I. exercer o Direito de Superfície em áreas particulares onde haja carência de equipamentos públicos e comunitários; II. exercer o Direito de Superfície em caráter transitório para remoção temporária de moradores de núcleos habitacionais de baixa renda, pelo tempo que durar as obras de urbanização. Art. 160. O Poder Público poderá conceder onerosamente o Direito de Superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nas áreas públicas integrantes do seu patrimônio, para exploração por parte das concessionárias de serviços públicos. Art. 161. O proprietário de terreno poderá conceder ao Município, por meio de sua Administração Direta ou Indireta, o direito de superfície, nos termos da legislação em vigor, objetivando a implementação de diretrizes constantes desta lei. CAPÍTULO X - DO ESTUDO DE IMPACTO À VIZINHANÇA E DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO Art. 162. Usos Geradores de Impacto à Vizinhança são todos aqueles que possam vir a causar alteração significativa no ambiente natural ou construído, ou sobrecarga na capacidade de atendimento da infraestrutura básica, quer se instalem em imóveis públicos ou privados, os quais serão designados "Empreendimentos de Impacto". Art. 163. São considerados Empreendimentos de Impacto: I. as edificações não-residenciais com área construída igual ou superior a 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados); II. os empreendimentos residenciais com mais de 100 (cem) unidades habitacionais na Macrozona Urbana; III. os empreendimentos residenciais verticais quando situados em terreno com área igual ou superior a 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) na Macrozona Urbana; IV. os empreendimentos residenciais com mais de 40 (quarenta) unidades habitacionais ou quando situados em terreno com área igual ou superior a 40.000 m2 (quarenta mil metros quadrados) na Macrozona Agroambiental; Parágrafo único. A aprovação dos Empreendimentos de Impacto previstos no inciso I está condicionada ao parecer favorável do Poder Público Municipal. Art. 164. São considerados Empreendimentos de Impacto, independentemente da área construída os itens subsequentes ou similares: I. shopping-centers; II. centrais de carga e logística; III. centrais de abastecimento; IV. estações de tratamento; V. terminais de transporte; VI. transportadoras; VII. garagens de veículos de transporte de passageiros; VIII. cemitérios; IX. presídios; X. postos de serviço com venda de combustível; XI. depósitos de gás liqüefeito de petróleo (GLP); XII. depósitos de inflamáveis, tóxicos e equiparáveis; XIII. supermercados e hipermercados; XV. casas de "show"; XVI. hotéis, pousadas e casas noturnas na Macrozona Agroambiental; XVII. casas de jogos eletrônicos e "bingos"; XVIII. estações de rádio-base. Parágrafo único. Caberá ao Poder Público Municipal acrescentar outras atividades consideradas de impacto nesta Lei. SEÇÃO I - DA APROVAÇÃO E ANÁLISE DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO À VIZINHANÇA Art. 165. A instalação de Empreendimentos de Impacto e de Incômodos no Município é condicionada à aprovação pelo Poder Executivo, considerando parecer da Secretaria de Obras e Planejamento. Art. 166. Os empreendimentos que causarem grande impacto urbanístico e ambiental, definidos no Capítulo X do Título V desta Lei, adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos previstos na legislação urbanística, terão sua aprovação condicionada à elaboração e aprovação de Relatório Prévio de Análise de Impacto a Vizinhança - REPAlV, a ser apreciado pelos órgãos competentes da Administração Municipal. Art. 167. O REPAIV deverá contemplar os aspectos positivos do empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária da área em questão e seu entorno, devendo incluir, no que couber, a análise e proposição de solução para as seguintes questões: I. adensamento populacional; II. uso e ocupação do solo; III. valorização imobiliária; IV. áreas de interesse histórico, cultural, paisagístico e ambiental; V. equipamentos urbanos, incluindo consumo de água e de energia elétrica, afastamento e tratamento de esgotos e líquidos e efluentes de drenagem de águas pluviais; VI. equipamentos comunitários, como os de saúde e educação; VII. sistema de circulação e transportes, incluindo, entre outros, tráfego gerado, acessibilidade, estacionamento, carga e descarga, embarque e desembarque; VIII. poluição sonora, atmosférica e hídrica; IX. vibração; X. periculosidade; XI. geração de resíduos sólidos; XII. riscos ambientais; XIII. impacto socioeconômico na população residente ou atuante no entorno. Art. 168. O Poder Executivo Municipal, para eliminar ou minimizar impactos negativos a serem gerados pelo empreendimento, deverá solicitar como condição para aprovação do projeto alterações e complementações no mesmo, bem como a execução de melhorias na infraestrutura urbana e de equipamentos comunitários, tais como: I. ampliação das redes de infraestrutura urbana; II. área de terreno ou área edificada para instalação de equipamentos comunitários em percentual compatível com o necessário para o atendimento da demanda a ser gerada pelo empreendimento; III. ampliação e adequação do Sistema Viário Estrutural, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de pedestres, semaforização; IV. proteção acústica, uso de filtros e outros procedimentos que minimizem incômodos da atividade; V. manutenção de imóveis, fachadas ou outros elementos arquitetônicos ou naturais considerados de interesse paisagístico, histórico, artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da área; VI. cotas de emprego e cursos de capacitação profissional, entre outros; VII. percentual de habitação de interesse social no empreendimento; VIII. possibilidade de construção de equipamentos sociais em outras áreas da cidade; IX. manutenção de áreas verdes . § 1º. As exigências previstas nos incisos anteriores deverão ser proporcionais ao porte e ao impacto do empreendimento. § 2°. A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de Termo de Compromisso pelo interessado, em que este se compromete a arcar integralmente com as despesas decorrentes das obras e serviços necessários à minimização dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento e demais exigências apontadas pelo Poder Executivo Municipal, antes da finalização do empreendimento. § 3°. O Certificado de Conclusão da Obra ou o Alvará de Funcionamento só serão emitidos mediante comprovação da conclusão das obras previstas no parágrafo anterior. Art. 169. A elaboração do REPAIV não substitui o licenciamento ambiental requerido nos termos da legislação ambiental. Art. 170. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do REPAIV, que ficarão disponíveis para consulta, na Secretaria de Obras e Planejamento, por qualquer interessado. CAPÍTULO XI – DA COTA DE SOLIDARIEDADE Art. 170. Esta lei institui a Cota de Solidariedade como instrumento colaborativo na produção de HIS e redução do déficit habitacional municipal. Consiste na produção de HIS - Habitação de Interesse Social pelo empreendedor, ou doação em terrenos ou equipamentos públicos sociais, ou em recursos financeiros para a provisão de HIS ou produção de equipamentos públicos sociais pelo poder público. Art. 171. A Cota de Solidariedade não é obrigatória e poderá ser aplicada por opção do interessado nos seguintes termos: I. Empreendimentos Residenciais classificados como HMH ou HMV acima de 10 (dez) UH (unidades habitacionais) ficam designados a produzir e comercializar o equivalente a 10% em UH, calculada sobre o número total de unidades habitacionais do empreendimento; II. Empreendimentos Mistos classificados como MH ou MV acima de 20 (vinte) UH (unidades habitacionais) ficam designados a produzir e comercializar o equivalente a 10% em UH, calculada sobre o número total de unidades habitacionais do empreendimento; III. Empreendimentos Não-Residenciais classificados como NRH ou NRV acima de 5 mil m2 de área construída ficam designados a produzir e comercializar o equivalente a 5% em terreno na mesma macrozona em que se localiza. Parágrafo único. Cada UH de HIS gerada deverá ter, no mínimo, 42 m2 de área. Art. 172. Alternativamente ao cumprimento da exigência estabelecida no artigo anterior, o empreendedor poderá: I. substituir a produção e comercialização destas moradias por doação ao Poder Público Municipal de recursos ou de equipamentos sociais em valor equivalente à exigência prevista no caput; II. produzir e comercializar empreendimento de Habitação de Interesse Social nas mesmas condições mas em outro lote, indicado pelo Poder Público Municipal; III. doar ao Poder Público Municipal lote de valor equivalente à edificação e fração de terreno devidos, calculados conforme o valor de referência adotado para fins de cobrança do ITBI (Imposto sobre Transação de Bens Imóveis) de acordo com a indicação do poder público municipal. Art. 173. Atendida a exigência estabelecida nos artigos anteriores quanto a Cota de Solidariedade, o empreendimento poderá beneficiar-se de acréscimo gratuito de até 20% (vinte por cento) na área construída até o limite do coeficiente de aproveitamento máximo permitido na zona e poderá atingir o gabarito máximo de 8 pavimentos na Zona Mista e de 16 pavimentos na Zona de Centralidade para as tipologias HMV – Habitação Multifamiliar Vertical e gabarito máximo de 4 pavimentos em HMH – Habitação Multifamiliar Horizontal, respeitanto os limites de densidade habitacionais previstas nesta lei para cada zona. Art. 174. O certificado de conclusão do empreendimento será outorgado concomitante ou sucessivamente ao certificado de conclusão das unidades habitacionais correspondentes à Cota de Solidariedade. Art. 175. O Poder Público Municipal deverá controlar a distribuição da provisão habitacional de interesse social, mediante comprovação de renda do comprador ou mutuário ao incorporador ou financiador dos projetos de HIS. TÍTULO VI - DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA CAPITULO I – DO SISTEMA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E GESTÃO INTEGRADA SEÇÃO I – DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES Art. 176. O Sistema de Informações para a Gestão Integrada – SIGI tem como objetivo fornecer informações em bancos de dados georreferenciados para o planejamento, o monitoramento, a implementação e a avaliação da política urbana e ambiental, subsidiando a tomada de decisões ao longo do processo de implementação do plano diretor. § 1º. O SIGI deverá conter e manter atualizados dados, informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, administrativos, físico-territoriais, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e outros de relevante interesse para o Município. § 2º. Para a consecução dos objetivos do Sistema o poder público municipal deverá estruturar um setor de planejamento e gestão. Art. 177. O SIGI deverá obedecer aos princípios: I. da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos; II. da democratização, publicização e disponibilização das informações, em especial as relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do Plano Diretor. SEÇÃO II – DA REGIONALIZAÇÃO TERRITORIAL Art. 178. A Regionalização Territorial tem como objetivo facilitar a gestão integrada e descentralizada das políticas setoriais a partir da possibilidade de cruzamento de informações em bancos de dados territorializáveis para o planejamento, monitoramento e a avaliação da implementação da política urbana, ambiental, cultural e socioeconômica. Parágrafo único. A espacialização da Regionalização Territorial encontra-se no Mapa 9. SEÇÃO III – DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-AMBIENTAL Art. 179. Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano-Ambiental, formado pelos seguintes recursos: I. recursos próprios do Município; II. transferências intergovernamentais; III. transferências de instituições privadas; IV. transferências do exterior; V. transferências de pessoa física; VI. receitas provenientes da Concessão do Direito Real de Uso de áreas públicas, exceto na ZERF; VII. receitas provenientes de Outorga Onerosa do Direito de Construir; VIII. receitas provenientes da Concessão do Direito de Superfície; IX. rendas provenientes da aplicação financeira dos seus recursos próprios; X. doações; XI. outras receitas que lhe sejam destinadas por lei. § 1°. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano será gerido pelo Conselho da Cidade. § 2°. Os recursos especificados no inciso VII serão aplicados: I. 20% na produção de HIS e regularização fundiária na Macrozona Urbana; II. 80% em mobilidade, infraestrutura, equipamentos públicos, áreas verdes de lazer e em preservação ambiental e cultural na Macrozona Urbana. CAPITULO II – DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO Art. 180. Fica assegurada a participação da população em todas as fases do processo de gestão democrática da política urbana, mediante as seguintes instâncias de participação: I. Conferência Municipal de Política Urbana; II. Assembleias territoriais de política urbana; III. Audiências públicas; IV. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; V. Plebiscito e referendo popular; VI. Conselhos Municipais relacionados à política urbana; VII. Comissões permanentes ou temporárias de planejamento, acompanhamento e gestão. SEÇÃO I – DO CONSELHO DA CIDADE Art. 181. Fica criado o Conselho da Cidade – Conselho Integrado de Gestão do Plano Diretor de Desenvolvimento, Uso e Ocupação, órgão consultivo, de acompanhamento e controle da mplementação do Plano Diretor de Campo Limpo Paulista, composto por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil. Parágrafo único. O Conselho da Cidade será vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento. Art. 182. O Conselho da Cidade será composto por representantes do Governo Municipal e de entidades civis, sendo 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) membros suplentes de cada segmento, totalizando 12 (doze) membros e 12 (doze) suplentes. § 1° Os 06 (seis) representantes e seus respectivos suplentes do Governo Municipal são das Secretarias de Obras e Planejamento, Educação, Saúde, Governo, Administração e Finanças e da Diretoria de Habitação Social. § 2º Os representantes das entidades civis são da Associação Comercial e Empresarial, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Saúde, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Limpo Paulista e 02 (dois) representantes das Associações de Bairros, totalizando 06 (seis) membros e 06 (seis) suplentes. §3° A representação por Associação de Bairro será feita por representantes membros de Associações de Bairros devidamente registradas e reconhecidas como de utilidade pública e cadastradas junto à Prefeitura Municipal, sob o cadastro da Promoção e Assistência Social. §4° A eleição dos representantes das Associações de Bairros deverá ser promovida pelas diversas Associações de cada setor e a documentação referente ao processo eletivo, comprovando sua legitimidade e processo democrático, entregue e protocolada junto à Diretoria de Programas e Desenvolvimento Social, que procederá ao reconhecimento junto ao Conselho da Cidade, dos representantes eleitos. §5° As deliberações do Conselho da Cidade serão feitas por dois terços dos presentes. Art. 183. Compete ao Conselho da Cidade: I. acompanhar a implementação do Plano Diretor, complementando informações e questões relativas a sua aplicação; II. acompanhar a viabilidade e compatibilidade de projetos e investimentos utilizando a concessão de Outorga Onerosa do Direito de Construir e a aplicação da transferência do direito de construir; III. acompanhar a implementação dos instrumentos urbanísticos; IV. acompanhar a integração das políticas setoriais; V. denunciar as omissões e casos não perfeitamente definidos pela legislação urbanística municipal; VI. divulgar os instrumentos de gestão e participação do Plano Diretor para a população; VII. divulgar as ações e projetos e sua integração com o Plano Diretor; IX. elaborar e aprovar o regimento interno. Art. 184. O Conselho da Cidade poderá instituir câmaras técnicas e grupos de trabalho específicos. Art. 185. O Poder Executivo Municipal garantirá suporte técnico e operacional ao Conselho da Cidade, necessário a seu pleno funcionamento, ressalvadas as responsabilidades técnica, administrativa e fiscal do Poder Executivo nas decisões de gestão. SEÇÃO II – DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA Art. 186. As Conferências Municipais ocorrerão ordinariamente a cada dois anos, e extraordinariamente quando convocadas pelo Conselho da Cidade. Parágrafo único. As conferências serão abertas à participação de todos os cidadãos e cidadãs. Art. 187. A Conferência Municipal de Política Urbana, deverá, dentre outras atribuições: I. apreciar as diretrizes da política urbana do Município; II. debater os relatórios anuais de gestão da política urbana, apresentando avaliação e sugestões; III. sugerir ao Executivo adequações nas ações estratégicas destinadas a implementação dos objetivos, diretrizes, planos programas e projetos; IV. deliberar sobre plano de trabalho do Conselho Integrado de Gestão do Plano Diretor para o biênio seguinte; V. sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor, a serem consideradas no momento de sua modificação ou revisão. TÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS CAPITULO I – DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR Art. 188. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, em até 1 (um) ano após a aprovação desta lei: I. Projeto de Lei de Hierarquização Viária e PGT – Polos Geradores de Tráfego; II. Projeto de Lei de Infraestrutura Verde; III. Projeto de Lei revisando a Política Municipal de Saneamento Básico; IV. Projeto de Lei revisando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; V. Decreto regulamentado o instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança; VI. Decreto regulamentado o Guia de Arborização Urbana de Campo Limpo Paulista. Art. 189. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, em até 2 (dois) anos após a aprovação desta lei: I. Projeto de Lei do Plano Municipal de Habitação - PMH; II. Projeto de Lei do Plano Diretor de Mobilidade Urbana; III. Projeto de Lei definindo o Código de Obras; IV. Projeto de Lei Regulamentando os instrumentos para a preservação do patrimônio ambiental, cultural e das paisagens. Art. 190. Até que seja aprovada a Lei especifica que redefine os parâmetros para a nova Hierarquização Viária e para os PGT – Polos Geradores de Tráfego, aplica-se o Quadro II da Lei Complementar 379/09 – Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, desde que não conflite com especificações e parâmetros da presente lei. Art. 191. Na ZECO-1, como disposição transitória, será possível a redução da área do lote mínimo em até 25% para as tipologias multifamiliares, pelo prazo de até dois anos, contados a partir da data de aprovação desta lei. Art. 192. Fica garantido o direito de protocolo de 2 anos posteriores para empreendimentos e projetos aprovados com até 2 anos anteriores da data da aprovação desta lei. Art. 193. Fica estabelecido o prazo de até 6 (seis) meses para o atendimento e cumprimento do comunique-se e 2 (dois) anos para início de execução da obra a partir da data de aprovação dos projetos e empreendimentos sob pena de prescrição, decadência, indeferimento e arquivamento. CAPITULO II – DOS ANEXOS, MAPAS, QUADROS E GLOSSÁRIO Art. 194. Fazem parte integrante desta lei, os seguintes Anexos: I. Anexo 1 – MAPA 1 – Macrozoneamento; II. Anexo 2 – MAPA 2 – Zonas de Proteção Ambiental; III. Anexo 3 – MAPA 3 – Rede Estrutural do Sistema Viário; IV. Anexo 4 – MAPA 4 – Rede Estrutural de Transporte Coletivo; V. Anexo 5 – MAPA 5 – Zoneamento Ordinário; Anexo 6 – MAPA 6 – Zoneamento Extraordinário - Habitação Social - Zonas Especiais de Regularização Fundiária e Urbanística (ZERF) e Zonas Especiais de Provisão Habitacional (ZERHA); VI. Anexo 7 – MAPA 7 – Zoneamento Extraordinário - Risco Geoambiental - Zonas Especiais de Mitigação de Risco Geoambiental (ZEMIR); VII. Anexo 8 – MAPA 8 – Zoneamento Extraordinário - Patrimônio, Paisagem e Usos Institucionais - Zonas Especiais de Preservação Cultural e da Paisagem (ZEPCP) e Zonas Especiais de Interesse Institucional (ZEIIN); VIII. Anexo 9 – MAPA 9 – Regionalização Territorial para Gestão Integrada; IX. Anexo 10 – QUADRO 1 – Hierarquia viária; X. Anexo 11 – QUADRO 2 – Parâmetros para Aplicação do Índice de Arborização; XI. Anexo 12 – QUADRO 3 – Parâmetros Urbanístico-ambientais para a Ocupação do Solo; XII. Anexo 13 – QUADRO 4 – Parâmetros de Incomodidade Urbano-ambiental; XIII. Anexo 14 – GLOSSÁRIO. Art. 195. A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Roberto Antonio Japim de Andrade Prefeito Municipal Campo Limpo Paulista, 18 de Março de 2019 MENSAGEM Nº 10 Processo Administrativo nº 2064/2019 Excelentíssimo Senhor Presidente. Nobres Vereadores. 1 Proponente: Poder Executivo Tramitação: Submeto à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara o incluso Projeto de Lei Complementar que Institui o Plano Diretor do Município de Campo Limpo Paulista, cujas justificativas para aprovação são objeto da explanação deduzida ao final da presente Mensagem. Considerações Preliminares O Projeto de Lei Complementar que ora apresentamos à apreciação dessa Egrégia Câmara representa o fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar, iniciado em 2018, que contou com a colaboração de técnicos dos mais diversos setores da administração municipal, coordenados pela Secretaria de Obras e Planejamento. Este PLC, que revisa o atual Plano Diretor de Campo Limpo Paulista - LC 302/2006, busca, entre outras questões, atender à Lei Federal nº 10.257/2001 - denominada Estatuto da Cidade - que no § 3º do art. 40 estabelece prazos para a revisão da lei que instituir o Plano Diretor. Portanto, esta revisão, que ocorre 13 (treze) anos de vigência do Plano Diretor de Campo Limpo Paulista, se faz necessária para que Campo Limpo Paulista possa estar em situação regular perante o Estatuto da Cidade. Neste sentido, a atual Administração procura não apenas resgatar uma dívida da municipalidade de Campo Limpo Paulista com a legislação federal, mas, principalmente, atender a vontade manifesta da sociedade campolimpense de ver sua cidade trilhar o caminho do desenvolvimento urbano sustentável, fortalecendo as instituições e os processos de planejamento e gestão urbana no município. O compromisso assumido por esta gestão ora se concretiza. Neste momento, em que transformações econômicas, sociais e ambientais afetam de forma significativa os municípios e, em especial, os aglomerados urbanos, o planejamento e a gestão do território tem como missão contribuir na busca por soluções para os problemas estruturais que prejudicam a qualidade e o funcionamento da cidade. APRESENTAÇÃO O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, dele originando as diretrizes, princípios, objetivos e demais dispositivos que visam orientar o processo de planejamento territorial do município, assim como estruturar o sistema de planejamento municipal integrado. O Processo Participativo do Plano Diretor A partir da promulgação da Constituição de 1988 e, anos mais tarde, da aprovação do Estatuto da Cidade, uma série de novos conceitos e instrumentos de planejamento vem sendo propostos e experimentados. No entanto, uma questão que perpassa todo este processo e que é o grande ponto de inflexão na condução das políticas públicas é introdução do componente participativo. A discussão, concepção e implementação da metodologia participativa para o Plano Diretor exigiu um grande esforço e dedicação de toda a equipe envolvida, e seus resultados foram integralmente documentados e colocados à disposição do público durante todo o processo. A Estrutura do Plano Diretor O Projeto de Lei Complementar que institui o Plano Diretor de Campo Limpo Paulista é composto por 07 (sete) títulos nos quais se organizam capítulos e seções cujos conteúdos tratam de aspectos específicos do planejamento e da gestão urbana em todo o território municipal. Estes foram denominados nos seguintes termos: - Título I: DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS E DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL; - Título II: DOS OBJETIVOS E DAS DIRETRIZES SETORIAIS DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL; - Título III: DO ORDENAMENTO TERRITORIAL; - Título IV: DOS PARÂMETROS PARA O USO, A OCUPAÇÃO E O PARCELAMENTO; - Título V: DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA; - Título VI: DA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA; - Título VII: DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. Objetivos do Plano Diretor O principal objetivo do Plano Diretor Participativo é dotar o Município de um conjunto de instrumentos legais que permitam à cidade caminhar na direção do desenvolvimento de forma equilibrada e sustentável. Para isto, é necessário garantir a função social da propriedade, conjugando o crescimento econômico com a preservação ambiental e a melhoria das condições de habitabilidade, mobilidade e da qualidade dos espaços públicos. O Plano Diretor deve favorecer a implantação de uma política habitacional includente, que promova a produção de moradias em áreas infraestruturadas, conduzindo o crescimento da cidade ao longo dos eixos estruturantes e no entorno das novas centralidades onde é melhor o acesso ao transporte público e as facilidades urbanas. Dos Objetivos e Diretrizes Como principais objetivos e diretrizes, o presente Plano Diretor propõe políticas voltadas não apenas para o desenvolvimento, mas também para a sustentabilidade, ao propiciar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social, à habitação social, ao saneamento ambiental integrado, à mobilidade urbana, ao patrimônio ambiental e cultural, e aos imóveis públicos. Conclusão Do Plano de Gestão De forma a garantir cada vez mais a participação social na definição das políticas públicas, o Plano Diretor prevê a criação de instrumentos garantidores de tal direito, ao estabelecer a regionalização territorial e a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano- Ambiental, além de instrumentos diretos de democratização, como a manutenção e melhoria do Conselho da Cidade, juntamente com a Conferência Municipal de Política Urbana. Conclusão É imbuído no intuito de cumprir e observar as disposições constitucionais e previstas no Estatuto da Cidade que promovemos a presente revisão, mas mais do que isso, move-nos a certeza e a vontade de que optar por instrumentos modernos e adequados ao ambiente urbano é investir na qualidade de vida do cidadão e do ser humano, que permitam e conduzam de forma eficaz as instituições à consecução destes objetivos e da dignidade da pessoa humana. Tendo isso em vista, convencidos da importância do ato e amparados nas razões esboçadas e nos instrumentos previstos, solicitamos aos Excelentíssimos Senhores Vereadores a sua reflexão e o seu apoio para a aprovação deste Projeto de Lei Complementar, face ao seu relevante interesse público. Roberto Antonio Japim de Andrade Prefeito Municipal Campo Limpo Paulista, 18 de Março de 2019 MENSAGEM Nº 09 Processo Administrativo nº 147/2019 Excelentíssimo Senhor Presidente. Nobres Vereadores. Proponente: Poder Executivo Tramitação: Dado a solicitação do senhor Presidente, bem como, o aumento da população e consequente ampliação das cadeiras legislativas na atual legislatura, se faz necessário atentarmos para as dependências da atual sede do Poder Legislativo, que não é mais capaz de atender de forma adequada a população e nem as atividades diárias dos Vereadores e funcionários, pois não possui espaço compatível com as demandas atuais do legislativo. Desse modo, a municipalidade pretende outorgar a Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista cessão de uso de prédio público especificado no bojo desta Lei Complementar, amparado no Art. 43, inciso VIII , da Lei Orgânica Municipal, visando dirimir as dificuldades enfrentadas atualmente pela Câmara Municipal por conta da limitação física de suas dependências. Roberto Antonio Japim de Andrade Prefeito Municipal REQUERIMENTO Nº 2595 Senhores Vereadores: CONSIDERANDO que ao Legislativo compete a fiscalização da ação governamental do Executivo e, para tanto, é de atribuição da Câmara solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à Administração Municipal, a teor do art. 14, XVIII, da Lei Orgânica do Município, c/c. Art. 146, II, do Regimento Interno desta Casa; CONSIDERANDO o ainda grande número de vias não pavimentadas existentes em nosso município, sendo do interesse e da atribuição do Legislativo a busca por emendas parlamentares junto às Casas Estadual e Federal; CONSIDERANDO que, para viabilização de emendas parlamentares, se faz necessário apresentação de projeto municipal de pavimentação; Pelas razões expostas; REQUEIRO à Mesa na forma regimental, ouvido o Soberano Plenário, sejam solicitadas do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, providencias no sentido de que seja remetido ao Legislativo as seguintes informações: 1 – Quais as vias públicas não pavimentadas existentes no município e quais possuem projeto de pavimentação? Campo Limpo Paulista, 25 de março de 2019. MARCELO DE ARAÚJO Vereador M O Ç Ã O N º 1-9-4-1 (apelo) CONSIDERANDO que na Avenida D. Pedro I, na altura do nº 1.400, existe um acesso para o Jardim Guancialle/Jardim Vitória; CONSIDERANDO que a Avenida D. Pedro I é uma via pública com intenso fluxo de veículos, notadamente no horário de pico, e nesse trecho de acesso ao Jardim Guancialle/Jd. Vitória há, em decorrência, transtornos e confusão no trânsito, eis que no local há também conversões de veículos, passível de acidentes; CONSIDERANDO a necessidade da implantação de um semáforo no local para ordenar e organizar o trânsito; Pelas razões expostas A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências visando a implantação de um semáforo na Avenida D. Pedro I, na altura do nº 1.400, no ponto de acesso ao Jardim Guanciale/Jardim Vitória, de maneira a ordenar os fluxos de veículos e de pedestres no local, zelando pela segurança do trânsito nesse local. Com conhecimento do inteiro teor da presente. Campo Limpo Paulista, 25 de março de 2019. MARCELO DE ARAUJO Vereador (Moção nº 1.941, fls. 02, subscritores) ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA ANTONIO FIAZ CARVALHO VEREADORA VEREADOR CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO DANIEL MANTOVANI DE LIMA VEREADORA VEREADOR DENIS ROBERTO BRAGHETTI DULCE DO PRADO AMATO VEREADOR VEREADORA EVANDRO GIORA JOSÉ RIBERTO DA SILVA VEREADOR VEREADOR JURANDI RODRIGUES CAÇULA LEANDRO BIZETTO VEREADOR VEREADOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS VALDIR ANTONIO ARENGHI VEREADOR VEREADOR MOÇÃO nº -1-9-4-2 (Apelo) CONSISERANDO o estado precário que se encontra a Rua Governador Pedro de Toledo, no Bairro São Paulo; CONSIDERANDO que a citada via é muito íngreme, o que acaba por maximizar os riscos existentes em razão dos vários e profundos buracos alí existentes; CONSIDERANDO que os usuários reclamam com razão e clamam junto ao vereador subscritor por urgentes providências. Por todas as razões acima expostas, A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a conveniência e a necessidade de determinar providências visando à realização de manutenção “tapa buracos” na Rua Governador Pedro de Toledo, no Bairro São Paulo, visando devolver à citada via condições mínimas de tráfego, atendendo assim ao anseio dos usuários. Campo Limpo Paulista, 25 de março de 2019. DENIS ROBERTO BRAGHETTI Vereador (Moção 1942 fls. 02, subscritores) ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA ANTONIO FIAZ CARVALHO VEREADORA VEREADOR CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO DANIEL MANTOVANI DE LIMA VEREADORA VEREADOR DULCE DO PRADO AMATO EVANDRO GIORA VEREADORA VEREADOR JOSÉ RIBERTO DA SILVA JURANDI RODRIGUES CAÇULA VEREADOR VEREADOR LEANDRO BIZETTO MARCELO DE ARAÚJO VEREADOR VEREADOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS VALDIR ANTONIO ARENGHI VEREADOR VEREADOR |
| Pauta |
| 678 |
Comparecimento
| Comparecimento dos Vereadores |
|---|
Máterias
PAUTAS
| Nº | SESSÃO | DATA | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
| 678 | 46ª Sessão Ordinária - 26/03/2019 | 25/03/2019 | Baixar |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 25/04/2025
Portal atualizado em: 24/04/2025 16:59:39